Caros alunos(as) das disciplinas de Fundamentos Sócio-Antropológicos da Educação e de História da Educação,leiam a entrevista de Carlos Brandão para a próxima aula,para que possamos ter mais dados e contexualizarmos os textos trabalhados.
Clara Duran
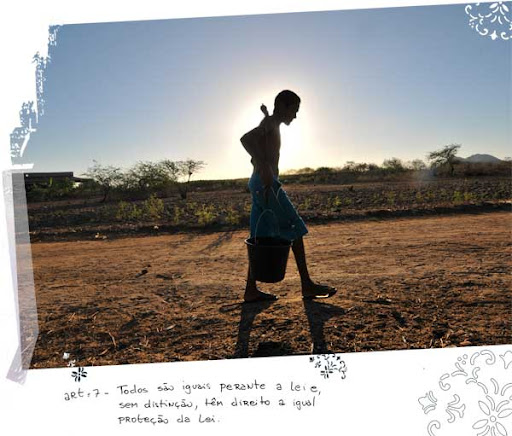
O Vento do Oeste surge com toda a sua grandeza, com toda sua força, surge como um movimento de mudança para a Educação, criando uma estrutura do conhecimento muito mais rica e profunda do qual o(a)s aluno(a)s não serão "meros observadores", mais os pesquisadores. O vento convida a descobrir novas metodologias e novas abordagens sobre diversas temáticas.

22 de fev. de 2009
Cultura, culturas, cultura popular e educação - Carlos Rodrigues Brandão ( entrevista)
Cultura, culturas, cultura popular e educação
Nome: Carlos Rodrigues Brandão
Atuação: Professor e pesquisador da UNICAMP. Atua na área de Antropologia com ênfase em Antropologia Rural, Antropologia da Religião e Antropologia e Ambiente, atuando principalmente nos temas: cultura, cultura popular, educação popular e educação ambiental.
Obras: Autor de diversos livros, dentre eles:O que é educação popular. São Paulo: Brasiliense, 2006.A Educação Popular na escola cidadã. Petrópolis: Vozes, 2002. v. 1.A Educação como Cultura. 3. ed. Campinas: Mercado das Letras, 2002. v. 1.
As culturas não são desiguais, não há uma hierarquia, as culturas indígenas não são culturas rústicas, ou sertanejas, empobrecidas e as culturas rústicas e sertanejas não são culturas civilizadas empobrecidas. Elas são culturas diferenciadas, a relação entre elas é uma relação entre diferenças.
________________________________________
Entrevista com Carlos Rodrigues Brandão
Salto: Qual o sentido de cultura e cultura popular?
Brandão: Cantos, danças, pinturas rupestres ou então, fotografias digitais, crenças, filosofias, visões de mundo, tudo aquilo que nós construímos com as imagens, com os símbolos, com os significados, com os sentidos, com os saberes, os sentimentos, que nós, inclusive, partilhamos quando habitamos uma cultura. Tudo isso faz parte de uma outra dimensão da cultura que nos acompanha e nos torna humanos. Nós não apenas criamos cultura enquanto seres humanos, quando aprendemos a nos colocarmos frente a natureza e a transformá-la. Mas também estamos rodeados, cercados, o tempo, todo, de símbolos, de significados.
O que eu tenho de meu? O que nós temos de nosso para mostrar como o que é nosso, como aquilo que nós criamos e que nos faz iguais a ingleses, a iranianos, a mexicanos e argentinos, porque todos de uma mesma espécie humana, mas diferentes, porque é uma gente de um lugar, socializada dentro de uma língua, com costumes, com gramáticas sociais, com visões de mundo, com tradições culturais próprias. O que nós temos para mostrar, em grande medida é, primeiro: a cultura do lugar, a cultura paranaense, cultura mineira, cultura carioca e, depois, dentro de cultura do lugar, as diferentes culturas que eu posso vivenciar, em Belém do Pará, em São Luiz, no Rio de Janeiro e em qualquer outra cidade.
As culturas não têm todas o mesmo destino, não devem seguir todas a mesma trajetória, assim como as pessoas que nós convivemos não estão todas condenadas a viverem de um modo semelhante ou igual, a estudarem de um único modo, a crerem num único Deus, e da mesma maneira. O que faz a imensa riqueza da experiência humana é que, ao contrário dos gorilas, ou dos chipanzés, nascemos seres de uma mesma espécie com diferenças inexistentes, dentro daquilo que, antigamente, se chamava de raças. Nós somos seres únicos, somos absolutamente idênticos do ponto de vista de identidade, do ponto de vista de inteligência e de desenvolvimento, somos potencialmente de uma mesma espécie. Por outro lado, nós hoje em dia compreendemos que, cada pessoa, isso vale inclusive para as crianças e os jovens de uma turma de estudante, cada pessoa, cada uma de nós, quem quer que seja, independentemente de quem seja, do ponto de vista de qualquer classificação ou preconceito, é uma fonte absolutamente original, peculiar e única de conhecimento, de saber, de vivência, de experiência. E se isso é verdadeiro com uma pessoa, diante de outra pessoa, na relação entre as culturas é mais ainda. As culturas não são desiguais, não há uma hierarquia, as culturas indígenas não são culturas rústicas, ou sertanejas, empobrecidas e as culturas rústicas e sertanejas não são culturas civilizadas empobrecidas. Elas são culturas diferenciadas, a relação entre elas é uma relação entre diferenças.
As nossas culturas populares, que também são plurais, muitas vezes nós usamos essa palavra no singular, como uma espécie de um grande guarda-chuva para falar do povo brasileiro em oposição a essas culturas eruditas, acadêmicas, e assim por diante. Mas, na verdade, tal como acontece com as línguas, que são uma dimensão da cultura, dentre outras, elas são plurais, elas são múltiplas. Quantas línguas são faladas no Brasil? Muita gente pensa, até ensina na escola, que seriam 7, 8, 10 línguas: português, espanhol, italiano dos imigrantes, polonês, alemão, ucraniano, mas só línguas indígenas nós temos 175, nós somos um país multiétnico, multilingüístico, multicultural. A grande riqueza da experiência humana é que somos iguais, mas somos absolutamente diferentes naquilo que nos iguala.
Salto: Qual o sentido das festas nas culturas populares?
Brandão: O lado da festa em nós existe porque nós não sabemos viver sem retornar, retomar essa experiência da gratuidade, da espontaneidade, do estar com o outro, não para produzir alguma coisa, uma utilidade com o outro, como a gente faz quando está trabalhando, mas para conviver, para conviver através de símbolos, através de significados, através de beleza, através do canto, da dança, da dramatização. Mas existe um outro lado na festa, no ritual, no celebrar e esse talvez seja o mais antropológico, nós somos também a única espécie que aprendeu a sobreviver porque aprendeu a tirar algo de si e destinar ao outro. Por exemplo, as mães chimpanzés cuidam dos seus filhinhos com muito esmero, mas quando eles desmamam e começam a se bastar para si, elas os abandonam. Eles vão conviver com um bando. E aquela mãe vai se preparar para ter uma outra cria e repetir o mesmo cuidado. Nós somos a única espécie que, desde a aurora da humanidade, desde que nós nos tornamos humanos, toma alimentos e os destina a outras pessoas. Nós somos a única espécie que criou formas de relação entre pessoas que são permeados por leis sociais, que nos obrigam a um contínuo “intertrocar”, entre nós, serviços, prestações de serviços, bens, que muitas vezes nós chamamos de presentes, mensagens, significações, saberes. Numa conversa, num momento de festa na escola, numa formatura ou durante a recepção de uma nova turma de alunos, nós estamos, simbolicamente, no que comemos, no que bebemos, na maneira como decoramos o ambiente, na maneira pela qual alguém vem e diz alguma coisa. Nós estamos entremeando essa reciprocidade através da qual nós nos tornamos humanos, e criamos significados.
A festa é o momento em que uma pessoa, um par de pessoas, de preferência uma família, uma parentela, uma comunidade, um grupo de amigos, ou seja lá quem for, às vezes até uma multidão, se reúne para viver o momento em que o que se troca não são tanto bens, bens materiais, coisas utilitárias, como numa situação de trabalho, mas trocam-se afetos, símbolos, significados, identidades, estimas. Isso se faz com a música, com o canto, com a dança, com as fantasias, com as roupas, com as dramatizações.
Salto: E no caso das festas populares? Qual seria a marca dessas festas, as relações entre tradição, enigma a perpetuação e, ao mesmo tempo, renovação de rituais, de celebrações e comemorações?
Brandão: Quando chega o Natal aqui no Brasil, uma imensa quantidade de pessoas, lastimavelmente, vive um Natal de shopping, onde há sempre um Papai Noel, que é fotografado com crianças, uma árvore de natal coberta com algodão para fingir que aquilo é neve, a figura das renas e uma série de músicas muito bonitas: “Noite Feliz”, “Jingle Bells”, que de repente são formas de celebrações bonitas, mas que vêm de outro mundo. São universais, esparramam-se por boa parte, pelo menos do mundo cristão. Enquanto isso está acontecendo em Copacabana (RJ), Morumbi (SP) ou num bairro de Belo Horizonte (MG) e, muito provável que em um número enorme, seria incontável, de periferias de cidades pelos Brasis afora ou então, de lugarejos rurais, às vezes, inclusive, muito distantes uns dos outros. Santa Catarina, Pernambuco, Maranhão, e Sertão de Minas, pequenos grupos de pessoas, que são artistas, tocam instrumentos, violões, violas, pandeiros, caixas e que vêm com roupas com fitas, às vezes até acompanhados de uns palhaços mascarados. Essas pessoas vão de casa em casa. Não apenas cantando, não também representando qualquer coisa, mas vão anunciando às pessoas da casa o momento do Evangelho cristão que é o momento do nascimento de Cristo. E eles se apresentam como os Santos Reis, os emissários Santos Reis. Nós estamos falando de uma folia de Santos Reis. De um ritual, de uma celebração que é parte do que nós chamamos, tradicionalmente, catolicismo popular ou religião popular ou religiosidade popular e que tem algumas características muito especiais. Primeiro, que é absolutamente nosso, ainda que talvez, na sua origem, tenha vindo de Portugal. Em segundo lugar, é alguma coisa muito marcada do que nós chamamos de tradição popular.
O que nós vemos na folia? Se uma pessoa chegar num momento culminante da Folia de Santos Reis, que é dia da festa de Santos Reis, normalmente no 6 de janeiro. Se a pessoa vai com um olhar muito apressado, ela vai ver uma festa parecida com qualquer outra, ela vai ver bandeirinhas, lugares ornamentados, comilança, pessoas na cozinha fazendo comidas, umas pessoas cantando, outras brincando, meninos, um homem vestido de palhaço, correndo atrás de crianças, tudo fica meio parecido com outra festa qualquer. Se ela olhar mais de perto, ela vai ver uma característica muito própria das culturas populares, a que marca uma diferença entre elas e as nossas culturas, digamos, mais eruditas, mais urbanas, é que normalmente são festas para todos, são festas abertas, você não precisa pedir licença para chegar e participar. Vamos dizer que a pessoa que chegar à festa converse com um mestre, um coordenador do grupo em geral, o artista mais velho, que até forma as outras pessoas que cantam, que tocam instrumentos. O mestre vai dizer, primeiro, que aquilo é muito antigo, muitas vezes até ele vai desfiar uma fileira de parentes: “Ah! Isso foi meu bisavô que passou para o meu avô...”. Isso é muito comum não só aí na folia, mas em várias outras festas, cerimoniais, rituais religiosos ou não, aqui no Brasil das culturas populares. Às vezes, até ele vai associar os acontecimentos muito antigos, ou ele vai dizer que veio do começo do mundo, ou ele vai dizer que isso veio desde quando os reis magos, há milhares de anos, foram visitar o menino Jesus. Então, nós fazemos isso numa memória daquele acontecimento. Ele pode até dizer que nós representamos os três Reis, ou, então, nós somos os três Reis, estamos a caminho de Belém para visitar o menino Jesus. E ele vai, inclusive, demarcar essas situações, porque é preciso ter um conhecimento da folia, aí são as pessoas que eu treinei, que eu ensinei, aqui está meu filho, está meu neto, meu cunhado, participam do meu grupo, eu mesmo sou folião há 30, 40 anos. Mais qualquer pessoa pode vir para pagar uma promessa, acompanhar, pode participar da festa, pode participar. São acontecimentos cerimoniais permeados de símbolos, de significados próprios de um povo que a gente não pode esquecer que é, normalmente, povo num duplo sentido da palavra. Povo, porque é gente camponesa, gente operária, são as pessoas que muitas vezes, quando chegam ao Ensino Médio, em termos da formação escolar, já é muito. E povo no sentido de que, sobretudo, numa sociedade desigual como o Brasil, uma sociedade ainda tão marcada por desigualdades sociais e por exclusões é, normalmente quem ficou na periferia, quem ficou na periferia, é gente posta à margem.
Daqueles que justamente criam e recriam os Quilombos negros, ou, então nas nossas comunidades rurais camponesas pobres, ou então, nas nossas periferias pobres das cidades, essas inúmeras tradições que são populares nesse duplo sentido, porque são culturalmente um fio ao longo da história de gentes do povo, do Brasil, e populares porque em grande medida são experiências vividas por pessoas mais pobres, muitas vezes até mais postas realmente à margem numa sociedade tão brutalmente excludente como a nossa.
Salto: Apesar mídia não enfocar muito essas manifestações, não valorizar e muitas vezes simplificar, de certa maneira, elas sobrevivem, revivem e se renovam. Como entender esse processo todo?
Brandão: Existem explicações históricas e teorias, algumas até muito elaboradas e complicadas, para isso. Há pouquinho tempo, eu vi um documentário na televisão mostrando uma cidade muito isolada na Sibéria, na Rússia, onde há uma igreja, mais ou menos em ruínas, muito antiga. E a igreja absolutamente cheia de fiéis e o comentarista diz: “Após 70 anos de proselitismo ateu em toda a Rússia, nem bem ele saiu deu lugar a um novo tipo de sociedade. Muito do que estava reprimido, sepultado, proibido, como tradições religiosas ou outras tradições do povo ou povos da Rússia reemergiu com uma força inacreditável. Nada mais repleto de gente do que as igrejas e nada mais praticável nas igrejas do que um cristianismo russo muito tradicional, como se ele viesse do século XIX ou de outros séculos, e rompesse de novo em pleno século XX. E esse fenômeno é universal. A maneira mais simples de compreender isso é ouvindo as próprias pessoas do povo. Quando a gente vai conversar com uma mãe-de- santo, com um artista do barro do Jequitinhonha, um mestre da Folia de Santos Reis, com um dançador de Congo, com um capitão de terno de Moçambique, essas pessoas de Norte a Sul do Brasil, homens e mulheres praticantes dos mais diferentes tipos e modalidades de cultura popular, cultura material, artesanato, cultura imaterial, se vocês quiserem, que vai desde o cordel até as festas populares do Bumba- Meu-Boi, eles quase sempre vão dizer: Isso é uma tradição que vem de muito longe, isso é alguma coisa que meu avô ensinou para o meu pai, meu pai ensinou para mim e eu quero ensinar para os meus filhos, para eles ensinarem para os netos. Na inocência dessa genealogia, essas pessoas estão quase que produzindo uma teoria popular da própria preservação e resistência das culturas populares. Eles até poderiam dizer: “nós não ganhamos nada com isso, ao contrário, nós até gastamos para que isso continue a ser realizado”. Quantas vezes eu mesmo participei de situações no sul de Minas, mas também em Goiás e em regiões da Serra do Mar, em São Paulo, e que uma pessoa, por uma promessa feita a um santo ou, então, simplesmente pela alegria de ser um festeiro daquele ano, se endivida por 5 ou 6 anos, financeiramente, por promover uma festa, para recriar naquele ano. Apesar de toda a ajuda dos vizinhos, parentes, porque há toda uma partilha muito bonita, perdida nos nossos edifícios, nas nossas cidades, mas muito viva ainda nesses mundos populares.
A submissão de povos indígenas, de afrodescendentes, de nossa gente do povo aos poderes senhoriais, os poderes, não só econômicos, mas também políticos e também da mídia, nunca se realizou completamente, não se realizou com os escravos, não se realizou com nossos povos indígenas, não se realiza com a nossa gente do campo, com a nossa gente migrada para a cidade. Existe tanto no que é sagrado, como no que é profano, aquilo que é religioso, como aquilo que é apenas festa e alegria, um desejo, uma libido, uma vontade, uma vocação de continuar pondo na rua, fazendo existir aquilo que é próprio, aquilo que é deles, aquilo que traduz a nossa maneira de ser.
PAPEL DA ESCOLA E DA MÍDIA
Salto: Qual seria o papel da escola e da mídia, se elas pudessem trabalhar a favor dessas classes populares, dessa cultura popular, no sentido de estar junto, de promover, de incorporar, de se reconhecer...
Brandão: Essa é uma questão muito complexa. Eu poderia responder a você com a minha própria experiência. Eu poderia dizer o seguinte: Alguns dos melhores aprendizados que eu tive e sigo tendo a respeito de culturas populares, inclusive de outros povos, de lugares onde eu nunca fui, foi através da mídia, foi através de vídeos, de filmes, de programas culturais na televisão. Eu mesmo tenho uma coleção de discos de músicas etnográficas, de povos indígenas do Brasil. E de outros lugares, vários do mundo, músicas indígenas, de camponeses. Não fossem esses recursos, eu nunca ouviria essa música. Algumas dramatizações de culturas populares, às vezes, prestam um serviço muito grande, porque trazem e colocam a frente milhões de pessoas alguma coisa que é uma retradução de experiências culturais. Mas, por outro lado, muito das piores coisas que eu tenho visto acontecerem no mundo das culturas populares também, através, não só da mídia em si, mas de uma associação entre o interesse de apropriação das culturas populares como mercadoria, esse que é o problema fundamental. É, misturada com uma espécie de domesticação midiática das culturas populares, há uma tendência, por exemplo, a tomar grupos de Bumba-Meu-Boi, de São Luiz do Maranhão, que secularmente se apresentam em suas comunidades, em dias próprios e com toda uma significação ritual, e colocar aquilo na porta do hotel. Ou colocar aquilo para ser filmado pela televisão e, de repente, ser cortado e aparecer em 3 minutos, como se tudo aquilo acontecesse segundo o olhar do programador da televisão. O que nós chamamos transformar o ritual, o que uma comunidade cria e vive, alguma coisa que ela cria a respeito dela mesma para ela mesma vivenciar num espetáculo fragmentado, deslocado, muitas vezes até perdido do seu sentido original para uma platéia assistir.
Salto: E qual o papel da escola?
Brandão: Então, desde o ensinar uma criança a falar “direito”, que era esquecer a maneira de se falar para aprender uma forma letrada e única, de uma brasilidade inexistente, até esse apagamento das nossas tradições populares em nome, muitas vezes, de uma incorporação de valores universais que nos pareciam até desfigurados na nossa educação. Isso tudo realizou uma espécie de divórcio, de alheiamento entre o Brasil e as nossas culturas. Aliás, isso não aconteceu só aqui, de muitos modos, aconteceu em muitos outros países, é típico de todo um momento de visão, de progresso, de desenvolvimento, de branqueamento, de ocidentalização que estava muito compatível com aquilo que eu falei no começo.
Isso foi feito de acordo com a visão de que as culturas indígenas, as culturas de tradição africana e culturas populares eram culturas do passado, eram culturas atrasadas, eram culturas a serem superadas em nome de uma cultura branca, letrada e erudita.
É muito interessante que, enquanto isso está sendo realizado na educação brasileira, grandes nomes da nossa literatura, da nossa música, da nossa poesia, das nossas artes plásticas estão justamente se voltando para as culturas populares. José de Alencar, o romantismo brasileiro, a descoberta dos nossos índios, Euclides da Cunha escrevendo Os Sertões e trazendo para o Brasil todo o modo de ser e viver das gentes dos fundos da Bahia, mais tarde Mario de Andrade saindo para o Brasil, pesquisando com equipamentos precaríssimos os nossos negros, os nossos indígenas, as nossas músicas e festas tradicionais.
O movimento que vem do século 19, de redescoberta das nossas raízes, das nossas maneiras indígenas, negras, populares de ser, mas de certa maneira impermeável à educação.
Hoje nós estamos vivendo um momento, não só aqui no Brasil, mas em vários lugares do mundo inteiro, nós descobrimos que a única maneira de nós nos universalizarmos, uma palavra melhor do que globalizar é estabelecermos diálogos entre nós e com aquilo que nos é próprio e peculiar, que está na raiz da nossa identidade, da nossa maneira de ser.
Preservar culturas, eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com essa expressão, às vezes eu gosto de dizer que uma cultura que precisa ser preservada para viver já morreu. O que eu quero dizer, uma das idéias fundamentais de quem estuda culturas, aí num sentido mais amplo, culturas populares, é que ou elas têm a sua própria vida ou não têm vida nenhuma, ou seja, toda a cultura de um povo indígena, de um terreiro de candomblé, a de uma comunidade rural do São Francisco, ela é viva e dinâmica, enquanto ela se faz de dentro para fora, enquanto ela se cria, enquanto ela é autônoma, enquanto ela faz os seus próprios rumos. Quando ela começa a estabelecer vínculos, não de diálogos, que é uma coisa boa, inclusive com a própria escola, mas de dependência da mídia, do mundo empresarial, da prefeitura, ela está assinando o seu testamento.
Então, o que eu acho que nós podemos fazer é criar condições para que, de uma maneira autônoma, criadores de cultura popular, desde uma pessoa individualmente até toda uma comunidade, possam recriar e possam viver da maneira mais livre e autêntica possível as suas próprias experiências de festas, de criações de cultura imaterial e assim por diante. Eu costumo dizer que se uma escola só se lembra das culturas populares na semana de 22 de agosto, é melhor não fazer coisa nenhuma.
Partir dessa visão “aulista”, monológica de um professor ensinando aos alunos, quem sabe dando a quem não sabe, aquilo que Paulo Freire chamava de uma educação bancária, para uma educação dialógica que parte inclusive daquele princípio de que eu falava, de que cada criança, cada pessoa é uma fonte original de saberes, é uma experiência única e irrepetível de saberes. Ao mesmo tempo e no mesmo movimento, estabelecer uma relação diferente entre a escola e a comunidade. Eu sei que isso é muito difícil, algumas escolas conseguem e ganham muito com isso, que é tomar o lugar social em que uma escola está, numa zona rural, uma periferia de cidade, um lugar qualquer, um bairro, não como aquele lugar em que a escola acidentalmente está, mas como aquilo que eu chamo uma comunidade de acolhida. Eu costumo dizer que antes de a escola ter vindo para cá, aquele lugar já existia, e se ela for embora ele vai continuar existindo, a escola passa, pode ter uma vida longa e Deus queira que tenha, mas aquela é uma comunidade que tem uma vida própria.
A idéia é de uma cidade educadora, de fazer com que todo o bairro, toda pequena cidade, até mesmo uma grande cidade, se transforme num múltiplo, polissêmico lugar de experiências de inter-trocas de saberes de valores, de experiências de vida, de culturas, de culturas populares. E fazer com que a escola deixe de ser esse lugar trancado, que esse cenário de aulas só para os alunos se transforme num centro irradiador de cultura em diálogo constante com a comunidade.
O que nessa comunidade, nesse bairro, onde nós estamos, nessa periferia, nessa zona rural, o que é vivido pelas pessoas? Isso é cultura popular viva. Não tem mais Congada, não tem Folia de Reis, mas tem hip-hop, periferia de São Paulo, bota então hip-hop. Então, o que as pessoas estão vivendo, no seu cotidiano, no seu pensar, no seu sentir, no seu vivenciar, nas suas festas, nas suas celebrações, quantas coisas lindas estão acontecendo numa casa, numa Igreja, às vezes, até num bairro, num campo de futebol, a vida cultural de uma comunidade e a escola, às vezes, é impermeável a esses acontecimentos. Não há comunidade, não há lugar nosso que não tenha os seus criadores populares de cultura, é preciso tentar incorporar a experiência cultural que se vive na escola com a experiência que se vive na comunidade local.
Ou seja, é essencial não trazer, de forma artificial, culturas populares para numa semana, num dia, colocar no palco da escola, mas interagir, integrar as várias dimensões das diferentes culturas brasileiras como coisas vivas que, justamente, existem e são significativas porque estão em permanente diálogo.
Então, o que eu estou sugerindo é que a escola não estabeleça essa separação entre o curricular, que é o erudito, o escolar, o normativo, o utilitário, o que realmente importa, do extracurricular, aquilo que entra pela porta do fundo, tem um dia, uma semana para aparecer e depois sumir, porque outra coisa vai ocupar o seu lugar. Mas que haja uma integração e que, de repente, pessoas da comunidade, sábios do lugar, memória da nossa gente que tem uma outra história para contar, o que é ser carioca, o que é ser mineiro, o que é existir numa escola da Lapa ou então em São Luís do Maranhão, ou então, na beira do Rio São Francisco, tudo isso que é não só uma cultura popular folclórica, mas uma experiência cultural enraizada na vida das pessoas, que dialogue com a própria escola.
Nome: Carlos Rodrigues Brandão
Atuação: Professor e pesquisador da UNICAMP. Atua na área de Antropologia com ênfase em Antropologia Rural, Antropologia da Religião e Antropologia e Ambiente, atuando principalmente nos temas: cultura, cultura popular, educação popular e educação ambiental.
Obras: Autor de diversos livros, dentre eles:O que é educação popular. São Paulo: Brasiliense, 2006.A Educação Popular na escola cidadã. Petrópolis: Vozes, 2002. v. 1.A Educação como Cultura. 3. ed. Campinas: Mercado das Letras, 2002. v. 1.
As culturas não são desiguais, não há uma hierarquia, as culturas indígenas não são culturas rústicas, ou sertanejas, empobrecidas e as culturas rústicas e sertanejas não são culturas civilizadas empobrecidas. Elas são culturas diferenciadas, a relação entre elas é uma relação entre diferenças.
________________________________________
Entrevista com Carlos Rodrigues Brandão
Salto: Qual o sentido de cultura e cultura popular?
Brandão: Cantos, danças, pinturas rupestres ou então, fotografias digitais, crenças, filosofias, visões de mundo, tudo aquilo que nós construímos com as imagens, com os símbolos, com os significados, com os sentidos, com os saberes, os sentimentos, que nós, inclusive, partilhamos quando habitamos uma cultura. Tudo isso faz parte de uma outra dimensão da cultura que nos acompanha e nos torna humanos. Nós não apenas criamos cultura enquanto seres humanos, quando aprendemos a nos colocarmos frente a natureza e a transformá-la. Mas também estamos rodeados, cercados, o tempo, todo, de símbolos, de significados.
O que eu tenho de meu? O que nós temos de nosso para mostrar como o que é nosso, como aquilo que nós criamos e que nos faz iguais a ingleses, a iranianos, a mexicanos e argentinos, porque todos de uma mesma espécie humana, mas diferentes, porque é uma gente de um lugar, socializada dentro de uma língua, com costumes, com gramáticas sociais, com visões de mundo, com tradições culturais próprias. O que nós temos para mostrar, em grande medida é, primeiro: a cultura do lugar, a cultura paranaense, cultura mineira, cultura carioca e, depois, dentro de cultura do lugar, as diferentes culturas que eu posso vivenciar, em Belém do Pará, em São Luiz, no Rio de Janeiro e em qualquer outra cidade.
As culturas não têm todas o mesmo destino, não devem seguir todas a mesma trajetória, assim como as pessoas que nós convivemos não estão todas condenadas a viverem de um modo semelhante ou igual, a estudarem de um único modo, a crerem num único Deus, e da mesma maneira. O que faz a imensa riqueza da experiência humana é que, ao contrário dos gorilas, ou dos chipanzés, nascemos seres de uma mesma espécie com diferenças inexistentes, dentro daquilo que, antigamente, se chamava de raças. Nós somos seres únicos, somos absolutamente idênticos do ponto de vista de identidade, do ponto de vista de inteligência e de desenvolvimento, somos potencialmente de uma mesma espécie. Por outro lado, nós hoje em dia compreendemos que, cada pessoa, isso vale inclusive para as crianças e os jovens de uma turma de estudante, cada pessoa, cada uma de nós, quem quer que seja, independentemente de quem seja, do ponto de vista de qualquer classificação ou preconceito, é uma fonte absolutamente original, peculiar e única de conhecimento, de saber, de vivência, de experiência. E se isso é verdadeiro com uma pessoa, diante de outra pessoa, na relação entre as culturas é mais ainda. As culturas não são desiguais, não há uma hierarquia, as culturas indígenas não são culturas rústicas, ou sertanejas, empobrecidas e as culturas rústicas e sertanejas não são culturas civilizadas empobrecidas. Elas são culturas diferenciadas, a relação entre elas é uma relação entre diferenças.
As nossas culturas populares, que também são plurais, muitas vezes nós usamos essa palavra no singular, como uma espécie de um grande guarda-chuva para falar do povo brasileiro em oposição a essas culturas eruditas, acadêmicas, e assim por diante. Mas, na verdade, tal como acontece com as línguas, que são uma dimensão da cultura, dentre outras, elas são plurais, elas são múltiplas. Quantas línguas são faladas no Brasil? Muita gente pensa, até ensina na escola, que seriam 7, 8, 10 línguas: português, espanhol, italiano dos imigrantes, polonês, alemão, ucraniano, mas só línguas indígenas nós temos 175, nós somos um país multiétnico, multilingüístico, multicultural. A grande riqueza da experiência humana é que somos iguais, mas somos absolutamente diferentes naquilo que nos iguala.
Salto: Qual o sentido das festas nas culturas populares?
Brandão: O lado da festa em nós existe porque nós não sabemos viver sem retornar, retomar essa experiência da gratuidade, da espontaneidade, do estar com o outro, não para produzir alguma coisa, uma utilidade com o outro, como a gente faz quando está trabalhando, mas para conviver, para conviver através de símbolos, através de significados, através de beleza, através do canto, da dança, da dramatização. Mas existe um outro lado na festa, no ritual, no celebrar e esse talvez seja o mais antropológico, nós somos também a única espécie que aprendeu a sobreviver porque aprendeu a tirar algo de si e destinar ao outro. Por exemplo, as mães chimpanzés cuidam dos seus filhinhos com muito esmero, mas quando eles desmamam e começam a se bastar para si, elas os abandonam. Eles vão conviver com um bando. E aquela mãe vai se preparar para ter uma outra cria e repetir o mesmo cuidado. Nós somos a única espécie que, desde a aurora da humanidade, desde que nós nos tornamos humanos, toma alimentos e os destina a outras pessoas. Nós somos a única espécie que criou formas de relação entre pessoas que são permeados por leis sociais, que nos obrigam a um contínuo “intertrocar”, entre nós, serviços, prestações de serviços, bens, que muitas vezes nós chamamos de presentes, mensagens, significações, saberes. Numa conversa, num momento de festa na escola, numa formatura ou durante a recepção de uma nova turma de alunos, nós estamos, simbolicamente, no que comemos, no que bebemos, na maneira como decoramos o ambiente, na maneira pela qual alguém vem e diz alguma coisa. Nós estamos entremeando essa reciprocidade através da qual nós nos tornamos humanos, e criamos significados.
A festa é o momento em que uma pessoa, um par de pessoas, de preferência uma família, uma parentela, uma comunidade, um grupo de amigos, ou seja lá quem for, às vezes até uma multidão, se reúne para viver o momento em que o que se troca não são tanto bens, bens materiais, coisas utilitárias, como numa situação de trabalho, mas trocam-se afetos, símbolos, significados, identidades, estimas. Isso se faz com a música, com o canto, com a dança, com as fantasias, com as roupas, com as dramatizações.
Salto: E no caso das festas populares? Qual seria a marca dessas festas, as relações entre tradição, enigma a perpetuação e, ao mesmo tempo, renovação de rituais, de celebrações e comemorações?
Brandão: Quando chega o Natal aqui no Brasil, uma imensa quantidade de pessoas, lastimavelmente, vive um Natal de shopping, onde há sempre um Papai Noel, que é fotografado com crianças, uma árvore de natal coberta com algodão para fingir que aquilo é neve, a figura das renas e uma série de músicas muito bonitas: “Noite Feliz”, “Jingle Bells”, que de repente são formas de celebrações bonitas, mas que vêm de outro mundo. São universais, esparramam-se por boa parte, pelo menos do mundo cristão. Enquanto isso está acontecendo em Copacabana (RJ), Morumbi (SP) ou num bairro de Belo Horizonte (MG) e, muito provável que em um número enorme, seria incontável, de periferias de cidades pelos Brasis afora ou então, de lugarejos rurais, às vezes, inclusive, muito distantes uns dos outros. Santa Catarina, Pernambuco, Maranhão, e Sertão de Minas, pequenos grupos de pessoas, que são artistas, tocam instrumentos, violões, violas, pandeiros, caixas e que vêm com roupas com fitas, às vezes até acompanhados de uns palhaços mascarados. Essas pessoas vão de casa em casa. Não apenas cantando, não também representando qualquer coisa, mas vão anunciando às pessoas da casa o momento do Evangelho cristão que é o momento do nascimento de Cristo. E eles se apresentam como os Santos Reis, os emissários Santos Reis. Nós estamos falando de uma folia de Santos Reis. De um ritual, de uma celebração que é parte do que nós chamamos, tradicionalmente, catolicismo popular ou religião popular ou religiosidade popular e que tem algumas características muito especiais. Primeiro, que é absolutamente nosso, ainda que talvez, na sua origem, tenha vindo de Portugal. Em segundo lugar, é alguma coisa muito marcada do que nós chamamos de tradição popular.
O que nós vemos na folia? Se uma pessoa chegar num momento culminante da Folia de Santos Reis, que é dia da festa de Santos Reis, normalmente no 6 de janeiro. Se a pessoa vai com um olhar muito apressado, ela vai ver uma festa parecida com qualquer outra, ela vai ver bandeirinhas, lugares ornamentados, comilança, pessoas na cozinha fazendo comidas, umas pessoas cantando, outras brincando, meninos, um homem vestido de palhaço, correndo atrás de crianças, tudo fica meio parecido com outra festa qualquer. Se ela olhar mais de perto, ela vai ver uma característica muito própria das culturas populares, a que marca uma diferença entre elas e as nossas culturas, digamos, mais eruditas, mais urbanas, é que normalmente são festas para todos, são festas abertas, você não precisa pedir licença para chegar e participar. Vamos dizer que a pessoa que chegar à festa converse com um mestre, um coordenador do grupo em geral, o artista mais velho, que até forma as outras pessoas que cantam, que tocam instrumentos. O mestre vai dizer, primeiro, que aquilo é muito antigo, muitas vezes até ele vai desfiar uma fileira de parentes: “Ah! Isso foi meu bisavô que passou para o meu avô...”. Isso é muito comum não só aí na folia, mas em várias outras festas, cerimoniais, rituais religiosos ou não, aqui no Brasil das culturas populares. Às vezes, até ele vai associar os acontecimentos muito antigos, ou ele vai dizer que veio do começo do mundo, ou ele vai dizer que isso veio desde quando os reis magos, há milhares de anos, foram visitar o menino Jesus. Então, nós fazemos isso numa memória daquele acontecimento. Ele pode até dizer que nós representamos os três Reis, ou, então, nós somos os três Reis, estamos a caminho de Belém para visitar o menino Jesus. E ele vai, inclusive, demarcar essas situações, porque é preciso ter um conhecimento da folia, aí são as pessoas que eu treinei, que eu ensinei, aqui está meu filho, está meu neto, meu cunhado, participam do meu grupo, eu mesmo sou folião há 30, 40 anos. Mais qualquer pessoa pode vir para pagar uma promessa, acompanhar, pode participar da festa, pode participar. São acontecimentos cerimoniais permeados de símbolos, de significados próprios de um povo que a gente não pode esquecer que é, normalmente, povo num duplo sentido da palavra. Povo, porque é gente camponesa, gente operária, são as pessoas que muitas vezes, quando chegam ao Ensino Médio, em termos da formação escolar, já é muito. E povo no sentido de que, sobretudo, numa sociedade desigual como o Brasil, uma sociedade ainda tão marcada por desigualdades sociais e por exclusões é, normalmente quem ficou na periferia, quem ficou na periferia, é gente posta à margem.
Daqueles que justamente criam e recriam os Quilombos negros, ou, então nas nossas comunidades rurais camponesas pobres, ou então, nas nossas periferias pobres das cidades, essas inúmeras tradições que são populares nesse duplo sentido, porque são culturalmente um fio ao longo da história de gentes do povo, do Brasil, e populares porque em grande medida são experiências vividas por pessoas mais pobres, muitas vezes até mais postas realmente à margem numa sociedade tão brutalmente excludente como a nossa.
Salto: Apesar mídia não enfocar muito essas manifestações, não valorizar e muitas vezes simplificar, de certa maneira, elas sobrevivem, revivem e se renovam. Como entender esse processo todo?
Brandão: Existem explicações históricas e teorias, algumas até muito elaboradas e complicadas, para isso. Há pouquinho tempo, eu vi um documentário na televisão mostrando uma cidade muito isolada na Sibéria, na Rússia, onde há uma igreja, mais ou menos em ruínas, muito antiga. E a igreja absolutamente cheia de fiéis e o comentarista diz: “Após 70 anos de proselitismo ateu em toda a Rússia, nem bem ele saiu deu lugar a um novo tipo de sociedade. Muito do que estava reprimido, sepultado, proibido, como tradições religiosas ou outras tradições do povo ou povos da Rússia reemergiu com uma força inacreditável. Nada mais repleto de gente do que as igrejas e nada mais praticável nas igrejas do que um cristianismo russo muito tradicional, como se ele viesse do século XIX ou de outros séculos, e rompesse de novo em pleno século XX. E esse fenômeno é universal. A maneira mais simples de compreender isso é ouvindo as próprias pessoas do povo. Quando a gente vai conversar com uma mãe-de- santo, com um artista do barro do Jequitinhonha, um mestre da Folia de Santos Reis, com um dançador de Congo, com um capitão de terno de Moçambique, essas pessoas de Norte a Sul do Brasil, homens e mulheres praticantes dos mais diferentes tipos e modalidades de cultura popular, cultura material, artesanato, cultura imaterial, se vocês quiserem, que vai desde o cordel até as festas populares do Bumba- Meu-Boi, eles quase sempre vão dizer: Isso é uma tradição que vem de muito longe, isso é alguma coisa que meu avô ensinou para o meu pai, meu pai ensinou para mim e eu quero ensinar para os meus filhos, para eles ensinarem para os netos. Na inocência dessa genealogia, essas pessoas estão quase que produzindo uma teoria popular da própria preservação e resistência das culturas populares. Eles até poderiam dizer: “nós não ganhamos nada com isso, ao contrário, nós até gastamos para que isso continue a ser realizado”. Quantas vezes eu mesmo participei de situações no sul de Minas, mas também em Goiás e em regiões da Serra do Mar, em São Paulo, e que uma pessoa, por uma promessa feita a um santo ou, então, simplesmente pela alegria de ser um festeiro daquele ano, se endivida por 5 ou 6 anos, financeiramente, por promover uma festa, para recriar naquele ano. Apesar de toda a ajuda dos vizinhos, parentes, porque há toda uma partilha muito bonita, perdida nos nossos edifícios, nas nossas cidades, mas muito viva ainda nesses mundos populares.
A submissão de povos indígenas, de afrodescendentes, de nossa gente do povo aos poderes senhoriais, os poderes, não só econômicos, mas também políticos e também da mídia, nunca se realizou completamente, não se realizou com os escravos, não se realizou com nossos povos indígenas, não se realiza com a nossa gente do campo, com a nossa gente migrada para a cidade. Existe tanto no que é sagrado, como no que é profano, aquilo que é religioso, como aquilo que é apenas festa e alegria, um desejo, uma libido, uma vontade, uma vocação de continuar pondo na rua, fazendo existir aquilo que é próprio, aquilo que é deles, aquilo que traduz a nossa maneira de ser.
PAPEL DA ESCOLA E DA MÍDIA
Salto: Qual seria o papel da escola e da mídia, se elas pudessem trabalhar a favor dessas classes populares, dessa cultura popular, no sentido de estar junto, de promover, de incorporar, de se reconhecer...
Brandão: Essa é uma questão muito complexa. Eu poderia responder a você com a minha própria experiência. Eu poderia dizer o seguinte: Alguns dos melhores aprendizados que eu tive e sigo tendo a respeito de culturas populares, inclusive de outros povos, de lugares onde eu nunca fui, foi através da mídia, foi através de vídeos, de filmes, de programas culturais na televisão. Eu mesmo tenho uma coleção de discos de músicas etnográficas, de povos indígenas do Brasil. E de outros lugares, vários do mundo, músicas indígenas, de camponeses. Não fossem esses recursos, eu nunca ouviria essa música. Algumas dramatizações de culturas populares, às vezes, prestam um serviço muito grande, porque trazem e colocam a frente milhões de pessoas alguma coisa que é uma retradução de experiências culturais. Mas, por outro lado, muito das piores coisas que eu tenho visto acontecerem no mundo das culturas populares também, através, não só da mídia em si, mas de uma associação entre o interesse de apropriação das culturas populares como mercadoria, esse que é o problema fundamental. É, misturada com uma espécie de domesticação midiática das culturas populares, há uma tendência, por exemplo, a tomar grupos de Bumba-Meu-Boi, de São Luiz do Maranhão, que secularmente se apresentam em suas comunidades, em dias próprios e com toda uma significação ritual, e colocar aquilo na porta do hotel. Ou colocar aquilo para ser filmado pela televisão e, de repente, ser cortado e aparecer em 3 minutos, como se tudo aquilo acontecesse segundo o olhar do programador da televisão. O que nós chamamos transformar o ritual, o que uma comunidade cria e vive, alguma coisa que ela cria a respeito dela mesma para ela mesma vivenciar num espetáculo fragmentado, deslocado, muitas vezes até perdido do seu sentido original para uma platéia assistir.
Salto: E qual o papel da escola?
Brandão: Então, desde o ensinar uma criança a falar “direito”, que era esquecer a maneira de se falar para aprender uma forma letrada e única, de uma brasilidade inexistente, até esse apagamento das nossas tradições populares em nome, muitas vezes, de uma incorporação de valores universais que nos pareciam até desfigurados na nossa educação. Isso tudo realizou uma espécie de divórcio, de alheiamento entre o Brasil e as nossas culturas. Aliás, isso não aconteceu só aqui, de muitos modos, aconteceu em muitos outros países, é típico de todo um momento de visão, de progresso, de desenvolvimento, de branqueamento, de ocidentalização que estava muito compatível com aquilo que eu falei no começo.
Isso foi feito de acordo com a visão de que as culturas indígenas, as culturas de tradição africana e culturas populares eram culturas do passado, eram culturas atrasadas, eram culturas a serem superadas em nome de uma cultura branca, letrada e erudita.
É muito interessante que, enquanto isso está sendo realizado na educação brasileira, grandes nomes da nossa literatura, da nossa música, da nossa poesia, das nossas artes plásticas estão justamente se voltando para as culturas populares. José de Alencar, o romantismo brasileiro, a descoberta dos nossos índios, Euclides da Cunha escrevendo Os Sertões e trazendo para o Brasil todo o modo de ser e viver das gentes dos fundos da Bahia, mais tarde Mario de Andrade saindo para o Brasil, pesquisando com equipamentos precaríssimos os nossos negros, os nossos indígenas, as nossas músicas e festas tradicionais.
O movimento que vem do século 19, de redescoberta das nossas raízes, das nossas maneiras indígenas, negras, populares de ser, mas de certa maneira impermeável à educação.
Hoje nós estamos vivendo um momento, não só aqui no Brasil, mas em vários lugares do mundo inteiro, nós descobrimos que a única maneira de nós nos universalizarmos, uma palavra melhor do que globalizar é estabelecermos diálogos entre nós e com aquilo que nos é próprio e peculiar, que está na raiz da nossa identidade, da nossa maneira de ser.
Preservar culturas, eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com essa expressão, às vezes eu gosto de dizer que uma cultura que precisa ser preservada para viver já morreu. O que eu quero dizer, uma das idéias fundamentais de quem estuda culturas, aí num sentido mais amplo, culturas populares, é que ou elas têm a sua própria vida ou não têm vida nenhuma, ou seja, toda a cultura de um povo indígena, de um terreiro de candomblé, a de uma comunidade rural do São Francisco, ela é viva e dinâmica, enquanto ela se faz de dentro para fora, enquanto ela se cria, enquanto ela é autônoma, enquanto ela faz os seus próprios rumos. Quando ela começa a estabelecer vínculos, não de diálogos, que é uma coisa boa, inclusive com a própria escola, mas de dependência da mídia, do mundo empresarial, da prefeitura, ela está assinando o seu testamento.
Então, o que eu acho que nós podemos fazer é criar condições para que, de uma maneira autônoma, criadores de cultura popular, desde uma pessoa individualmente até toda uma comunidade, possam recriar e possam viver da maneira mais livre e autêntica possível as suas próprias experiências de festas, de criações de cultura imaterial e assim por diante. Eu costumo dizer que se uma escola só se lembra das culturas populares na semana de 22 de agosto, é melhor não fazer coisa nenhuma.
Partir dessa visão “aulista”, monológica de um professor ensinando aos alunos, quem sabe dando a quem não sabe, aquilo que Paulo Freire chamava de uma educação bancária, para uma educação dialógica que parte inclusive daquele princípio de que eu falava, de que cada criança, cada pessoa é uma fonte original de saberes, é uma experiência única e irrepetível de saberes. Ao mesmo tempo e no mesmo movimento, estabelecer uma relação diferente entre a escola e a comunidade. Eu sei que isso é muito difícil, algumas escolas conseguem e ganham muito com isso, que é tomar o lugar social em que uma escola está, numa zona rural, uma periferia de cidade, um lugar qualquer, um bairro, não como aquele lugar em que a escola acidentalmente está, mas como aquilo que eu chamo uma comunidade de acolhida. Eu costumo dizer que antes de a escola ter vindo para cá, aquele lugar já existia, e se ela for embora ele vai continuar existindo, a escola passa, pode ter uma vida longa e Deus queira que tenha, mas aquela é uma comunidade que tem uma vida própria.
A idéia é de uma cidade educadora, de fazer com que todo o bairro, toda pequena cidade, até mesmo uma grande cidade, se transforme num múltiplo, polissêmico lugar de experiências de inter-trocas de saberes de valores, de experiências de vida, de culturas, de culturas populares. E fazer com que a escola deixe de ser esse lugar trancado, que esse cenário de aulas só para os alunos se transforme num centro irradiador de cultura em diálogo constante com a comunidade.
O que nessa comunidade, nesse bairro, onde nós estamos, nessa periferia, nessa zona rural, o que é vivido pelas pessoas? Isso é cultura popular viva. Não tem mais Congada, não tem Folia de Reis, mas tem hip-hop, periferia de São Paulo, bota então hip-hop. Então, o que as pessoas estão vivendo, no seu cotidiano, no seu pensar, no seu sentir, no seu vivenciar, nas suas festas, nas suas celebrações, quantas coisas lindas estão acontecendo numa casa, numa Igreja, às vezes, até num bairro, num campo de futebol, a vida cultural de uma comunidade e a escola, às vezes, é impermeável a esses acontecimentos. Não há comunidade, não há lugar nosso que não tenha os seus criadores populares de cultura, é preciso tentar incorporar a experiência cultural que se vive na escola com a experiência que se vive na comunidade local.
Ou seja, é essencial não trazer, de forma artificial, culturas populares para numa semana, num dia, colocar no palco da escola, mas interagir, integrar as várias dimensões das diferentes culturas brasileiras como coisas vivas que, justamente, existem e são significativas porque estão em permanente diálogo.
Então, o que eu estou sugerindo é que a escola não estabeleça essa separação entre o curricular, que é o erudito, o escolar, o normativo, o utilitário, o que realmente importa, do extracurricular, aquilo que entra pela porta do fundo, tem um dia, uma semana para aparecer e depois sumir, porque outra coisa vai ocupar o seu lugar. Mas que haja uma integração e que, de repente, pessoas da comunidade, sábios do lugar, memória da nossa gente que tem uma outra história para contar, o que é ser carioca, o que é ser mineiro, o que é existir numa escola da Lapa ou então em São Luís do Maranhão, ou então, na beira do Rio São Francisco, tudo isso que é não só uma cultura popular folclórica, mas uma experiência cultural enraizada na vida das pessoas, que dialogue com a própria escola.
Escola e Democracia de Demerval Saviani (resenha)
Escola e democracia, de Demerval Saviani
O livro Escola e Democracia, de Demerval Saviani, é uma tentativa de esclarecimento da situação da Educação, senão ao menos uma melhor compreensão de sua relação com os diferentes aspectos da sociedade, da história e dos momentos políticos. Neste livro, o autor denuncia as formas de discriminação na educação, ao mesmo tempo em que sugere uma pedagogia capaz de superar as desigualdades.
Saviani começa seu livro levantando questões de dois grupos mais ou menos antagônicos. O primeiro grupo - Teorias não-críticas, classificadas como a pedagogia tradicional, a pedagogia nova e a pedagogia tecnicista - acha que a educação é a panacéia milagrosa capaz de erradicar a marginalidade de nossa sociedade.
Nessa primeira parte o autor destaca as “teorias não-críticas” da educação que, segundo o mesmo, não consideram os problemas e a estrutura social como influenciadores da educação. Destaca também as diferenças entre a pedagogia tradicional, a nova e a tecnicista e sua relação com o problema da marginalidade:
- Na pedagogia tradicional, a educação é vista como direito de todos e dever do Estado, sendo a marginalidade associada à ignorância. A escola surge como um “antídoto”, difundindo a instrução.
- Na Escola Nova, passa a ocorrer um movimento de reforma na pedagogia tradicional, na qual a marginalidade não é mais do ignorante e sim do rejeitado, do anormal e inapto, desajustado biológica e psiquicamente. A escola passa a ser então a forma de adaptação e ajuste dos indivíduos à sociedade.
- Por fim, o Tecnicismo define a marginalidade como ineficiência, improdutividade. A função da escola então passa a ser de formação de indivíduos eficientes, para o aumento da produtividade social, associado diretamente ao rendimento e capacidades de produção capitalistas.
O autor depois discorre sobre as “teorias crítico-reprodutivistas”, nas quais não pode ser possível “compreender a educação senão a partir dos seus condicionantes sociais”.
Estas teorias consideram a Educação como um instrumento da classe dominante capaz de reproduzir o sistema “dominante-dominado”, sendo responsável pela marginalização, uma vez que percebe a dependência da educação em relação à sociedade, tendo em sua estruturação a reprodução da sociedade na qual ela se insere.
Essas teorias reproduzem o modelo capitalista vigente (são citados na obra o sistema de ensino como violência simbólica; a teoria da escola como aparelho ideológico do Estado ou da classe dominante; e a teoria da escola dualista). Pode-se observar a atual política educacional brasileira, que privilegia o ensino fundamental como formação de mão-de-obra (países em desenvolvimento/ mão-de-obra barata, acrítica e subserviente), que saiba ler para operar as tecnologias desenvolvidas no “Primeiro Mundo”, retentor de tecnologia, dos poderes econômico, bélico e político.
No segundo grupo - Teorias Crítico-Reprodutivistas subdivididas em Teoria de sistema enquanto violência simbólica, Teoria da Escola Enquanto Aparelho Ideológico do Estado (AIE) e Teoria da Escola Dualista -, de forma oposta, a educação aparece como fator agravante, através da discriminação e responsável pela marginalidade.
Nessa segunda parte do livro, Saviani faz referência à Teoria da Curvatura da Vara, fazendo alusão à política interna da escola a partir de três teses, sendo as mesmas todas teses políticas:
1. Tese filosófica-histórica, do caráter revolucionário da pedagogia da essência e do caráter reacionário da pedagogia da existência. Neste momento, pode-se refletir sobre a história do homem e a influência desta na educação, as mudanças sociais e a luta de classes trazida com o capitalismo e seus reflexos na educação.
2. Tese pedagógico-metodológica, que é mostrada como do caráter científico do método tradicional e do caráter pseudo-científico dos novos métodos. O autor discute aqui a relação entre ensino e pesquisa e como o “escolanovismo” tentou articular-se com o processo de desenvolvimento da ciência enquanto o método tradicional o articulava como produto da ciência.
3. Voltando então à falta de democracia na Escola Nova, que remete o autor à terceira tese que deriva, segundo ele das duas primeiras: ...de como, quando mais se falou em democracia no interior da escola, menos democrática foi a escola; e de como, quando se menos falou em democracia, mais a escola esteve articulada com a construção de uma ordem democrática.
Por último, propõe uma Teoria Crítica da Educação. Saviani frisa que os dois primeiros grupos explicam a marginalização na forma da relação entre educação e sociedade.
A educação que deveria ser o instrumento para as escolhas do homem livre, democrático, cidadão e autônomo acaba, então se tornando mais uma ferramenta de manipulação e de homogeneização do pensamento crítico da sociedade. Ela legitima as diferenças sociais e marginaliza, ao invés de tencionar a luta contra a ideologia das classes dominantes, e dos direitos dos seres humanos: o conhecimento, que deve ser universal e possibilitado a todos. E como o próprio autor destaca, a teoria de curvatura da vara de Lênin pode ser a forma da Educação criar sua revolução para a quebra desse sistema, uma vez que se quebra a neutralidade da Educação, passando a ser considerada parte ativa neste processo de transformação.
O autor termina o livro e conclui retificando a relação entre e educação e a sociedade, bem como a responsabilidade dos professores em transformar, não o mundo, mas sim cada indivíduo que assiste sua aula, compreendendo melhor o mundo e seus acontecimentos, assim como seu papel dentro do sistema, seus deveres e seus direitos para a construção de um país melhor. Essas pequenas revoluções que acontecem na sala de aula (aquilo que podemos nos aventurar a chamar de ruptura ou quebra de paradigmas) podem dar a chance de uma transformação histórica num período maior de tempo.
A obra é rápida, leve e fundamental para a compreensão do papel do(a) educador(a), em qualquer que seja sua área de atuação.
Saviani, através de suas brilhantes analogias, além do resgate e compreensão histórica da Educação, faz também algumas provocações, quanto às questões de influência histórico-política nos papéis da escola na vida social. Ao elencar a necessidade e importância do professor como transformador desta realidade educacional, o autor estrutura proposições e abre possibilidades para diálogos e discussões a respeito da relação educativa estar realmente colocando o educador a serviço do educando ou às políticas governamentais ou sistemas vigentes atualmente.
Fonte: Unicamp
O livro Escola e Democracia, de Demerval Saviani, é uma tentativa de esclarecimento da situação da Educação, senão ao menos uma melhor compreensão de sua relação com os diferentes aspectos da sociedade, da história e dos momentos políticos. Neste livro, o autor denuncia as formas de discriminação na educação, ao mesmo tempo em que sugere uma pedagogia capaz de superar as desigualdades.
Saviani começa seu livro levantando questões de dois grupos mais ou menos antagônicos. O primeiro grupo - Teorias não-críticas, classificadas como a pedagogia tradicional, a pedagogia nova e a pedagogia tecnicista - acha que a educação é a panacéia milagrosa capaz de erradicar a marginalidade de nossa sociedade.
Nessa primeira parte o autor destaca as “teorias não-críticas” da educação que, segundo o mesmo, não consideram os problemas e a estrutura social como influenciadores da educação. Destaca também as diferenças entre a pedagogia tradicional, a nova e a tecnicista e sua relação com o problema da marginalidade:
- Na pedagogia tradicional, a educação é vista como direito de todos e dever do Estado, sendo a marginalidade associada à ignorância. A escola surge como um “antídoto”, difundindo a instrução.
- Na Escola Nova, passa a ocorrer um movimento de reforma na pedagogia tradicional, na qual a marginalidade não é mais do ignorante e sim do rejeitado, do anormal e inapto, desajustado biológica e psiquicamente. A escola passa a ser então a forma de adaptação e ajuste dos indivíduos à sociedade.
- Por fim, o Tecnicismo define a marginalidade como ineficiência, improdutividade. A função da escola então passa a ser de formação de indivíduos eficientes, para o aumento da produtividade social, associado diretamente ao rendimento e capacidades de produção capitalistas.
O autor depois discorre sobre as “teorias crítico-reprodutivistas”, nas quais não pode ser possível “compreender a educação senão a partir dos seus condicionantes sociais”.
Estas teorias consideram a Educação como um instrumento da classe dominante capaz de reproduzir o sistema “dominante-dominado”, sendo responsável pela marginalização, uma vez que percebe a dependência da educação em relação à sociedade, tendo em sua estruturação a reprodução da sociedade na qual ela se insere.
Essas teorias reproduzem o modelo capitalista vigente (são citados na obra o sistema de ensino como violência simbólica; a teoria da escola como aparelho ideológico do Estado ou da classe dominante; e a teoria da escola dualista). Pode-se observar a atual política educacional brasileira, que privilegia o ensino fundamental como formação de mão-de-obra (países em desenvolvimento/ mão-de-obra barata, acrítica e subserviente), que saiba ler para operar as tecnologias desenvolvidas no “Primeiro Mundo”, retentor de tecnologia, dos poderes econômico, bélico e político.
No segundo grupo - Teorias Crítico-Reprodutivistas subdivididas em Teoria de sistema enquanto violência simbólica, Teoria da Escola Enquanto Aparelho Ideológico do Estado (AIE) e Teoria da Escola Dualista -, de forma oposta, a educação aparece como fator agravante, através da discriminação e responsável pela marginalidade.
Nessa segunda parte do livro, Saviani faz referência à Teoria da Curvatura da Vara, fazendo alusão à política interna da escola a partir de três teses, sendo as mesmas todas teses políticas:
1. Tese filosófica-histórica, do caráter revolucionário da pedagogia da essência e do caráter reacionário da pedagogia da existência. Neste momento, pode-se refletir sobre a história do homem e a influência desta na educação, as mudanças sociais e a luta de classes trazida com o capitalismo e seus reflexos na educação.
2. Tese pedagógico-metodológica, que é mostrada como do caráter científico do método tradicional e do caráter pseudo-científico dos novos métodos. O autor discute aqui a relação entre ensino e pesquisa e como o “escolanovismo” tentou articular-se com o processo de desenvolvimento da ciência enquanto o método tradicional o articulava como produto da ciência.
3. Voltando então à falta de democracia na Escola Nova, que remete o autor à terceira tese que deriva, segundo ele das duas primeiras: ...de como, quando mais se falou em democracia no interior da escola, menos democrática foi a escola; e de como, quando se menos falou em democracia, mais a escola esteve articulada com a construção de uma ordem democrática.
Por último, propõe uma Teoria Crítica da Educação. Saviani frisa que os dois primeiros grupos explicam a marginalização na forma da relação entre educação e sociedade.
A educação que deveria ser o instrumento para as escolhas do homem livre, democrático, cidadão e autônomo acaba, então se tornando mais uma ferramenta de manipulação e de homogeneização do pensamento crítico da sociedade. Ela legitima as diferenças sociais e marginaliza, ao invés de tencionar a luta contra a ideologia das classes dominantes, e dos direitos dos seres humanos: o conhecimento, que deve ser universal e possibilitado a todos. E como o próprio autor destaca, a teoria de curvatura da vara de Lênin pode ser a forma da Educação criar sua revolução para a quebra desse sistema, uma vez que se quebra a neutralidade da Educação, passando a ser considerada parte ativa neste processo de transformação.
O autor termina o livro e conclui retificando a relação entre e educação e a sociedade, bem como a responsabilidade dos professores em transformar, não o mundo, mas sim cada indivíduo que assiste sua aula, compreendendo melhor o mundo e seus acontecimentos, assim como seu papel dentro do sistema, seus deveres e seus direitos para a construção de um país melhor. Essas pequenas revoluções que acontecem na sala de aula (aquilo que podemos nos aventurar a chamar de ruptura ou quebra de paradigmas) podem dar a chance de uma transformação histórica num período maior de tempo.
A obra é rápida, leve e fundamental para a compreensão do papel do(a) educador(a), em qualquer que seja sua área de atuação.
Saviani, através de suas brilhantes analogias, além do resgate e compreensão histórica da Educação, faz também algumas provocações, quanto às questões de influência histórico-política nos papéis da escola na vida social. Ao elencar a necessidade e importância do professor como transformador desta realidade educacional, o autor estrutura proposições e abre possibilidades para diálogos e discussões a respeito da relação educativa estar realmente colocando o educador a serviço do educando ou às políticas governamentais ou sistemas vigentes atualmente.
Fonte: Unicamp
3 de fev. de 2009
Los afrobolivianos
Los Afrobolivianos
En el Altiplano el esclavo negro hace su presencia en la conquista del Nuevo Mundo, desde los primeros instantes. En 1529, cuando Francisco Pizarro, llegó por primera vez a la costa Peruana y ordenó a uno de sus hombres que saltara a tierra para observar el pueblo de Tumbez, Alfonso Molina, quien fuera escogido para ésa misión, desembarcó acompañado de un esclavo suyo, causando mucha impresión en los nativos, que intentaron infructuosamente lavarle el color de su piel .
Es posible que Pizarro en la Isla del Gallo, llevara consigo por lo menos un negro que fue testigo de su espectacular gesto , cuando desesperado al ver que sus hombres le abandonaban, poniéndose frente a la soldadesca sacó su espada y trazó una línea sobre la arena húmeda de la playa y con voz ronca dijo: "por aquí se va al Perú a ser ricos, señalando el lado de la línea que quedaba hacia el Sur.... "por allí, dijo señalando hacia el Norte", se va a Panamá a ser pobres! Escoja el que sea buen castellano, lo que más le estuviere!. En 1535, los primeros conquistadores que pisaron el Altiplano Colla estaban a órdenes de Diego de Almagro y en número de 570 españoles 150 negros, de 10 a 15.000 indios y 112 caballos, bordearon el Lago Titicaca y llegaron al valle de La Paz, luego cruzaron de Norte a Sur todo el Altiplano y llegaron hasta Tupiza, luego descendieron al valle de Salta, hambrientos desmoralizados decidieron cruzar las montañas de los Andes y bajar a la costa del Pacífico.
En una desastrosa travesía murieron en esa larga jornada 1500 indios, dos españoles y 150 negros sepultados por las nieves y abrumados por la altitud. Después de haber viajado 2 años y haber recorrido mas de 24000 millas sobre mesetas frías, cumbres nevadas y desiertos arenosos y candentes, los Almagro regresaron al Perú, hambrientos, harapientos. Todos los negros murieron en dicha empresa. Esta es la primera "debacle" masiva, que sufren tantos esclavos en las alturas.
Aún no se había descubierto el Cerro de Potosí, como emporio de una fabulosa riqueza, capaz de colmar todas las expectativas de cualquier ambición.
De ésa época inicial de la conquista, queda el nombre de una esclava negra que llevó el apellido, nada menos que de Almagro. Fue Malgaricha de Almagro, que acompañó a su amo en las marchas hacia Chile y con mucha lealtad lo que derivo en su libertad. Años mas tarde la liberta, institucionalizando un sistema de oraciones por el alma del adelantado y fundando con ese objeto una capellanía. Fue la única sobreviviente de toda esa empresa, todos los demás fallecieron, por los rigores de la altura y el frío de las montañas nevadas.
El esclavo Africano estuvo presente en el Nuevo Mundo desde el comienzo de la conquista y siguió viniendo como tal, en forma ininterrumpida por disposición de sus amos, por mas de tres siglos.
Entre los vacilantes intentos de reformar el sistema de la Mita en Potosí, estuvo la consulta hecha por el Consejo de Indias al Virrey del Perú Don Luis de Velasco en 1601 para dar al indígena libertad de opción para trabajar en las minas, transfiriendo esa pesada carga a los esclavos, que serían importados expresamente para cubrir el vacío que dejarían aquellos en los socavones y galerías. El intento no prosperó y hasta ahora no se han presentado pruebas de que los negros hubieran llegado a ser empleados en el trabajo minero.
Se trata de minas situadas en las regiones elevadas de la Cordillera de los Andes, con alturas de más de 4.000 metros (el Cerro de Potosí se levanta hasta los 4300 metros sobre el nivel del mar), es difícil que allí se produjera la aclimatación de personas originarias de las tierras bajas y tropicales del África.
Más aún cuando esas personas portaban una noxa que debería hacer crisis, precisamente en esas alturas. Su debilidad frente al trabajo rudo de las minas en las alturas salvó de esa carga a los negros.
Pero fueron empleados en los ingenios mineros; donde las tareas eran menos agotadoras que en los socavones, y en general a alturas menores. No hay pruebas de su presencia frente a las vetas de los minerales de la región andina.
A propósito de ésta disposición, Miguel Agía citado por Crespo Rodas, decía poco después: que la experiencia ha demostrado, que los negros no son para trabajar en la tierra fría .....! es cosa cierta que se habían de morir.
Inge Wolf menciona una cédula dictada en 1608 por la audiencia de Charcas que expone el criterio opuesto: "no solo destinar a los negros al trabajo en el interior de los socavones, sino también en las faenas menos pesadas de fundición, en vista de las experiencias negativas recogidas en el pasado".
Gallinazo no canta en Puna: Es una sentencia popular, limitante, preventiva, muy contundente y que en transmisión oral es mantenida, desde los tiempos coloniales, entre los negros habitantes de los Yungas del Departamento de La Paz en Bolivia.
Alude al peligro, que significa para los sujetos de color, el transmontar la Cordillera y arribar al Altiplano (4.000 metros sobre el nivel del mar).
Es probable que los sujetos de color que pretendían llegar a la ciudad de La Paz y de allí a los centros mineros altiplánicos en busca de trabajo, se enfermaran y hasta morían, sobre todo si tomaban el rumbo que lleva a la cumbre, por donde fue trazada la vía férrea, por Hichuloma o a la vía carretera, por Unduavi.
Recordemos que los sujetos negros que arribaron a comienzos de la Conquista acompañando a los españoles como esclavos, después de partir del África y de larga travesía marítima, llegaban a las Islas del Caribe, (Cuba, Haití, Martinica, etc.), tocaban el continente en Panamá, Venezuela, siguiendo un trayecto terrestre arribaban a Nueva Granada o Colombia, siguiendo por mar hasta el Callao (Perú), y tal vez Arica. Así llegan al Altiplano, descienden a La Paz (Bolivia) y desde aquí jalonados por los Obrajes toman el Río Abajo.
Siguiendo al río Choqueapu, luego el Río de La Paz, los conduce, por Luribay o Palca hasta la Plazuela, Irupana, Chicaloma. Vuelven a subir hacia Coroico, Chulumani (Yungas bolivianos de clima tropical o semitropical y de altitudes menores a los 1200 m snm), donde se van diseminando para trabajar siempre bajo la férula de sus amos, para luego ser empleados en cultivos de frutos tropicales, quina, coca, cítricos, etc.
Llevan en su sangre, características biológicas de la pureza de su raza, por tanto son homocigotes o heterocigotes con alta proporción patológica de Hb "S" en los glóbulos rojos. Varios de ellos enferman la anemia Falciforme, otros son portadores del rasgo en menor proporción y sobreviven, pero siempre son susceptibles de que en condiciones de hipoxia, frío, acidosis y stress puedan deformar sus glóbulos rojos y en esa condición entrabarse, aumentando la viscosidad sanguínea y la densidad de su sangre y taponando los pequeños vasos, causen las trombosis y los infartos característicos del Falciformismo.
Esos sujetos viven pocos años, hasta los 20; y si salen de Yungas hacia las alturas, corren el peligro de presentar las Crisis Falciformes", enfermarse gravemente y morir al poco tiempo de su arribo.
Sujetos que llevan la hemoglobina "S" en poca proporción, son generalmente mestizos, mulatos o zambos que llevan el rasgo y que en las condiciones señaladas, características del altiplano, pueden tener la crisis dolorosas.
La comparación con el gallinazo, es porque se trata de un ave rapaz de color negro que se alimenta de la carroña, de animales muertos, de vida estacionaria, actitud expectante, radicados en parajes de Yungas. Nunca su vuelo es alto ni prolongado, apenas remonta unos pocos metros con unos aleteos. Ni asomo de comparación al Condor de los Andes, menos de las aguilas. El gallinazo no tiene ambiciones de altitud sus proyecciones de explorar, sólo abarca su entorno rutinario, muy rara vez se ha visto algún gallinazo en el Altiplano.
No hay sentencias de éste tipo en otros grupos raciales y tan circunscritos a un ambiente geográfico como este. Es remarcable su focalización a la Puna y su alusión a una posibilidad vital, emergente de la gravedad del cuadro.
En los Yungas: Las localidades de Coroico, Mururata, Chicaloma, Chulumani, Irupana, Tocaña, etc. Son de población negra. Existen algunos resabios en Chuquisaca, Mizque, Santa Cruz, Tarija, pero ninguno firme en otros sitios del país, menos en el Altiplano, y ninguno en Potosí.
Todos los mulatos refieren antecesores en los Yungas.
Actualmente los negros salen asiduamente a La Paz. Hemos logrado calcular el porcentaje de incidencia de portadores de Hb. "S" en la población negra de los Yungas en apenas un 7.2% frente al 10% incidente en Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá y un poco mayor el 15% en Cuba y Haití.
Esas proporciones significan una prueba del mestizaje que experimentó la raza negra. Así como el hecho de que el rasgo hereditario de los recién llegados en los primeros tiempos de la colonia, directamente del Africa alcanzaban más de un 40% de incidencia, con la pureza de su raza, al ser de súbito transplantados en el Altiplano después de haber sido arrancados a la fuerza desde sus fuentes originarias africanas, tenían que sufrir las consecuencias inmediatas.
La Poca cantidad de sujetos de Yungas (unos 10.000) y la baja incidencia de positividad de Hb "S", nos está demostrando que existió un gran mestizaje entre blancos e indias que comenzó desde el primer momento del descubrimiento. Transcurrió cerca de un siglo hasta que los blancos trajeran mujeres e hijas. El mestizaje entre el blanco y su esclava negra también fue un hecho inmediato, más aún en Potosí, sitio en el cual, un mestizaje entre negros y nativas era casi imposible; por que estaban limitadas a las casas de los señores potentados, que podían haber adquirido esclavas. Por ello es que aún persisten descendientes mulatos de blancos y negros en familias burguesas.
Las migraciones de negros en las zonas tórridas y templadas como los Yungas bolivianos, ofrecían a los esclavos negros una actividad más abierta; familias o parejas de negros podían reproducirse y aún era posible el cruce entre nativas con negros, de ahí surgen mestizos, prietos, mulatos, zambos.
En estas zonas los núcleos de raza negra sobreviven en condiciones similares a las de su habitad natural, no desaparecen, por el contrario son cada vez más numerosos.
La intolerancia a la altitud, está expresada en un alegato, aunque rara vez efectivo, para tramitar el cambio de amo; cual era la intolerancia de un esclavo frente al clima de rigor extremo y muy distinto al de su medio natural africano. Aunque se ignora si se trataba de una causal atendible. En la práctica, en todo caso, el camino estaba abierto para el intento.
Por lo menos hay un caso, cuando el marido de la esclava María Antonieta Alcayde y padre de un niño llamado Jerónimo, se presentó a la Autoridad Eclesiástica de La Paz, pidiendo se obligara al Licenciado Marcos Pardo de Figueroa, (que era cura de Calamarca) a vender a su esclava, la madre y al hijo" a causa de que no podía sobrellevar el temperamento del pueblo". La Paz, 16 de Septiembre de 1797.
PRESENCIA Y AUSENCIA EN POTOSI
Es evidente que al comienzo del coloniaje llegaron muchos negros a Potosí, muchos murieron y su reproducción fue escasa. Lo contrario sucedió en otros países vecinos y del Continente, donde la población negra es importante, tanto que parece a momentos, que fueran una prolongación del África. (Por ejemplo en el Brasil el 40% de su población es de raza negra) .
Lo cierto es que a Potosí, llegaron importantes migraciones forzosas, un mercado de remate era habitual en dicha ciudad a pesar del elevado precio que tenía un esclavo. Además se conocían traficantes que recibían partidas importantes.
En ese tiempo en Cuba, un esclavo podía venderse en 30 veces de lo que había costado en África, es decir, entre 80 y 100 pesos o ducados. Era una "mercadería" que se adquiría en las costas africanas a cambio de armas, machetes, tejidos y cuentas de colores y que una vez conducidos a la América, era alto ese precio. En Potosí costaban ente 450-700 pesos. . El siglo XVII y XVIII era el mas esclavista del mundo.
De los miles de sujetos negros que arribaron, vivieron y trabajaron en Potosí no quedan sobrevivientes. Este hecho de por sí debe llamar a la reflexión en sentido de buscar un proceso patológico o epidémico importante.
Contestando esa interrogante, señalemos que Potosí tuvo las condiciones óptimas para que el transtorno de la Hb "S" o Falciformismo surtiera el efecto que estamos señalando.
En 1535, se observan los primeros sujetos de color en el Altiplano y se registran las primeras víctimas, que pasan del centenar en la expedición de Almagro.
En 1557, trece años después del descubrimiento de la plata en el afamado cerro de Potosí, después de una nevada que duró 8 días, se levantó un viento tan delgado y penetrante que por la escasa protección que ofrecían las viviendas fallecieron 18 esclavos negros.
Es bueno recordar que los esclavos adquiridos, estaban escogidos por su juventud y su estado de aparente buena salud. Algo fuera de lo común tenía que haber producido esa mortandad.
"En base a la riqueza fácil que regalaba el cerro, se levantaron las primeras iglesias, luego por necesidad, la propia Corona daría impulso a la construcción de la primera casa de amonedación que se ubicó en la plaza del Regocijo. Poco se sabe sobre la historia de la primera casa de la moneda que empezó a funcionar alrededor de 1572".
En 1573, el Virrey Toledo instituye el sistema de la Mita.
En 1611, un empadronamiento ordenado por la Audiencia de la Plata, dio cifra de 160.000 habitantes. En detalle ese censo señala:
En Potosí: 66.000 indios, 35.000 españoles, 40.000 forasteros y extranjeros y 6.000 negros, mulatos y zambos de ambos sexos (3.9%). Al parecer fue la mayor población alcanzada por la ciudad ya que la explotación del cerro estaba en su apogeo.
En 1719 la población era de 70.000 habitantes, los negros esclavos y libres, zambos y cuarterones llegaban a 3.209 o sea el 4.56% pero se habían reducido los habitantes en forma importante, a menos de la mitad.
En 1750, se inicia la obra proyectada para la actual Casa de la Moneda, el arquitecto Villa pedía al Superintendente Satelices y Venero" para que tiara los hilos y comenzar la obra de la Casa de la Moneda en la plaza del Gato, la misma que concluiría en 1773.
Para esa fecha, una calle paralela (la actual calle Junín), abierta entre la Catedral y el Colegio Pichincha, habría de tomar el nombre de "la calle de la Pulmonía". El viento del Tomavi, que se origina en Uyuni y que al llegar a Potosí en fila por un desfiladero que forma dicha calle ocasiona que en la jerga popular, haya recibido ese apelativo.
Sin embargo, tal nombre tuvo que originarse y consolidarse por los sujetos que presentando tal cuadro patológico (con la típica expectoración numular, purulenta y/o, sanguinolenta) de la pulmonía o el infarto pulmonar, frecuente en sujetos de color que merodeaban los alrededores de la Casa de la Moneda, tanto durante el tiempo de su construcción, cuanto en el que sujetos de color vivieron y trabajaron en dicha fortaleza. Cualquiera que fuese el origen de tal nombre, Potosí es la única ciudad en el mundo que tiene una calle con tan insólita denominación y de sugerente contenido patológico.
En 1793 en Cochabamba el gobernador intendente Francisco de Viedma hizo un censo en dicha ciudad, que tuvo las siguientes características: 23.305 habitantes, 6.238 españoles, 12.980 mestizos, 1.182 indígenas, 600 mulatos, 175 negros.
En 1807, en el curato de Potosí sobre un total de 13.700 personas estaban registrados 459 negros y 502 pardos, que representaban el 7% .
A fines del siglo XVIII aproximadamente 13.000 habitantes vivían en Chuquisaca, de éstos 4.000 eran españoles, 3.000 mestizos, 4.500 indios y 1.500 negros y mulatos (31) dicha ciudad había sido fundada en 1539 por Pedro Anzures de Campo Redondo.
También en La Paz en los siglos XVII y XVIII la población de esclavos negros tenía en su mayoría una edad media de 10 y 20 años de edad.
Los que tenían 20-30 años, llegaban al 32,3% y de los de mas de 30 años apenas llegaban al 17.1%. Se concluye que sólo el 17.1% de toda la población a 3.600 metros sobre el nivel del mar, tenía una aspiración de vida mayor de los 30 años. La mayoría había muerto a una edad menor, que es coincidente con la sobrevida general de los sujetos con anemia falciforme, que apenas logra sobrevivir hasta los 20 años, según escrituras de venta de los escribanos de La Paz.
Según cómputos de fines del siglo XVIII América tenía:
- 16:902.000 habitantes
- 3:726.000 blancos
- 7:530.000 indios
- 5:310.000 mestizos
- 780.000 negros
Joseph B Pentland, un agente consular Británico en 1826 había recogido información sobre el país. Así un cálculo demográfico llevado a cabo por el gobierno estimaba la población total de Bolivia entre 1.100.000 y 1.200.000 habitantes. De ése número unas 200.000 personas eran de ascendencia española, las tres cuartas partes de la población, (es decir unos 800.000) eran indios, los cholos o mestizos llegaban a 100.000 individuos, los de raza negra llegaban a 7.000 de los que 7.000 seguían como esclavos .
Analizando éstos datos es patética la disminución de negros en Potosí, hasta su actual total desaparición.
Por el contrario, es notable el incremento de sujetos negros que en algunos sitios sustituyeron a los nativos hasta lograr su total erradicación, como sucedió en Haití y Cuba, la Martinica, Jamaica, Bahamas y sobre todo en lo que primero fue la Española o Haití donde existiendo numerosa población de nativos, por efecto de enfermedades portadas por españoles y negros, tales como la viruela y el sarampión, produjeron mortandad, semejante a una masacre .
Pobladores de esas islas desaparecen y son suplantados por negros en su totalidad. La viruela tal y como lo señalamos anteriormente, tiene un papel estelar en ese cambio demográfico. Los esclavos negros que llegaron con los conquistadores estuvieron vinculados a las actividades mineras, agrícolas y ganaderas. Vivieron con sus señores, junto a sus habitaciones, haciendo de fieles agentes del servicio. Deambularon con sus camas por calles y caminos, no solo como simples acompañantes, sino como factores de prestigio y status social de quienes iban sobre sus espaldas, bajo su paraguas o bajo su vigilancia. Estuvieron presentes en levantamientos y conflictos, ellos fueron el eje de una ideología, la de la esclavitud y su consecuencia, la imperiosa ansia de libertad.
Es sugerente lo que escribió un esclavo llamado George King, liberado en Carolina del Sur (EE.UU.) "El amo nos dijo que éramos libres, pero eso no significa que seamos blancos y no supone que seamos iguales".
O este cantar que resume esa inquietud: "Mi abuela vino del África a criar al Libertador", "Bolívar agradecido, libertó a mi nación".
En Potosí acompañaron a los Vascongados, que eran comerciantes, perseverantes y trabajadores. Por lo mismo los españoles tenían en sus manos, las estructuras socio - económicas, por lo tanto tenían esclavos como prueba de su status. Eran guardaespaldas, capataces y agentes custodios de los bienes de es núcleo racial y regionalista de España.
Frente a ellos agrupando a castellanos, extremeños y andaluces estaban los vicuñas, además de los criollos, más dedicados a la aventura, al ejercicio de las armas y de menguados recursos económicos.
Por todo ello en la guerra civil de influencias, poderes y prerrogativas que se desató en Potosí, los esclavos llevaron la peor parte, pues ellos eran víctimas indirectas de esa guerra. Murieron por centenares, según ocho citas expresas de Bartolomé Arzans y Vela, que demuestra, al parecer, otra importante causa de mortalidad, además de la señalada en el plano de la salu.
Potosí fue el botín de la Conquista, alrededor del Cerro Rico existe un filón histórico que aún no ha sido completamente recogido ni explorado.
De comienzo a fin los españoles que explotaron los yacimientos de plata estuvieron acompañados de sus esclavos negros adquiridos a precios altos gracias a las riquezas que les brindó sin retaceos el fabuloso cerro, que bien podía ser, como lo sugirió Arzans y Vela la octava maravilla del mundo.
Por esa condición los sujetos negros corrieron la misma suerte que sus amos en la hora de las querellas ambiciosas que buscaban hegemonía para explotar el cerro. A la hora de la Guerra de la Independencia (de los 15 años) y aún en los primeros años de la República, Potosí fue cercada, asaltada y saqueada a expensas de sus habitantes mineros y de la Casa de la Moneda donde se fundía y traducía en dinero el argéntico producto que inundaba el mundo: la Plata. La Guerra civil de Vicuñas y Vascongados (1622-1625), las guerrillas, los ejércitos auxiliares y los caudillos de la República, alejaron de su seno a los mineros españoles y por tanto a los esclavos negros .
La contribución de la raza negra debe ser valorada en cada momento de la historia. El aporte a la ganadería continental, en los primeros tiempos de la colonia, tiene un valor incalculable. En ese momento eran depositarios de una tradición pastoril, extraña al indígena. Sin embargo, definitivamente, no tenían una tradición minera adaptable a Potosí.
Existe una autojustificación moral, religiosa y jurídica elaborada por el estado y la sociedad que se beneficiaba con la esclavitud, pero ni por asomo con la "Visión de los vencidos".
Desvanecida su figura por un largo cruce con otras razas fundamentales de América: la española y la indígena, interrumpida la llegada de nuevos aportes africanos desde comienzos del siglo XIX, víctimas de la hostilidad del clima de las regiones altas a donde se lo trajo a trabajar, el negro queda ahora en Bolivia, apenas como la imagen intemporal de un pasado perdido.
Sin embargo fue durante más de 2 siglos y medio, un elemento esencial de la colectividad llamada hoy boliviana, con el grillo al pie, el azote en las espaldas. "Fue el gran colonizador del Nuevo Mundo, cultivador de coca en las laderas húmedas de los trópicos, peón en las haciendas de los valles de Tarija y Chuquisaca, sirviente doméstico en las ciudades, trabajador en los ingenios mineros, acuñador en la Casa de la Moneda de Potosí".
Ningún negro fue dueño de las centenares de minas o socavones de explotación. Pese al costo pagado en vidas, lágrimas y sufrimientos, ninguno enriqueció con la plata del Cerro Rico de Potosí.
En el Altiplano el esclavo negro hace su presencia en la conquista del Nuevo Mundo, desde los primeros instantes. En 1529, cuando Francisco Pizarro, llegó por primera vez a la costa Peruana y ordenó a uno de sus hombres que saltara a tierra para observar el pueblo de Tumbez, Alfonso Molina, quien fuera escogido para ésa misión, desembarcó acompañado de un esclavo suyo, causando mucha impresión en los nativos, que intentaron infructuosamente lavarle el color de su piel .
Es posible que Pizarro en la Isla del Gallo, llevara consigo por lo menos un negro que fue testigo de su espectacular gesto , cuando desesperado al ver que sus hombres le abandonaban, poniéndose frente a la soldadesca sacó su espada y trazó una línea sobre la arena húmeda de la playa y con voz ronca dijo: "por aquí se va al Perú a ser ricos, señalando el lado de la línea que quedaba hacia el Sur.... "por allí, dijo señalando hacia el Norte", se va a Panamá a ser pobres! Escoja el que sea buen castellano, lo que más le estuviere!. En 1535, los primeros conquistadores que pisaron el Altiplano Colla estaban a órdenes de Diego de Almagro y en número de 570 españoles 150 negros, de 10 a 15.000 indios y 112 caballos, bordearon el Lago Titicaca y llegaron al valle de La Paz, luego cruzaron de Norte a Sur todo el Altiplano y llegaron hasta Tupiza, luego descendieron al valle de Salta, hambrientos desmoralizados decidieron cruzar las montañas de los Andes y bajar a la costa del Pacífico.
En una desastrosa travesía murieron en esa larga jornada 1500 indios, dos españoles y 150 negros sepultados por las nieves y abrumados por la altitud. Después de haber viajado 2 años y haber recorrido mas de 24000 millas sobre mesetas frías, cumbres nevadas y desiertos arenosos y candentes, los Almagro regresaron al Perú, hambrientos, harapientos. Todos los negros murieron en dicha empresa. Esta es la primera "debacle" masiva, que sufren tantos esclavos en las alturas.
Aún no se había descubierto el Cerro de Potosí, como emporio de una fabulosa riqueza, capaz de colmar todas las expectativas de cualquier ambición.
De ésa época inicial de la conquista, queda el nombre de una esclava negra que llevó el apellido, nada menos que de Almagro. Fue Malgaricha de Almagro, que acompañó a su amo en las marchas hacia Chile y con mucha lealtad lo que derivo en su libertad. Años mas tarde la liberta, institucionalizando un sistema de oraciones por el alma del adelantado y fundando con ese objeto una capellanía. Fue la única sobreviviente de toda esa empresa, todos los demás fallecieron, por los rigores de la altura y el frío de las montañas nevadas.
El esclavo Africano estuvo presente en el Nuevo Mundo desde el comienzo de la conquista y siguió viniendo como tal, en forma ininterrumpida por disposición de sus amos, por mas de tres siglos.
Entre los vacilantes intentos de reformar el sistema de la Mita en Potosí, estuvo la consulta hecha por el Consejo de Indias al Virrey del Perú Don Luis de Velasco en 1601 para dar al indígena libertad de opción para trabajar en las minas, transfiriendo esa pesada carga a los esclavos, que serían importados expresamente para cubrir el vacío que dejarían aquellos en los socavones y galerías. El intento no prosperó y hasta ahora no se han presentado pruebas de que los negros hubieran llegado a ser empleados en el trabajo minero.
Se trata de minas situadas en las regiones elevadas de la Cordillera de los Andes, con alturas de más de 4.000 metros (el Cerro de Potosí se levanta hasta los 4300 metros sobre el nivel del mar), es difícil que allí se produjera la aclimatación de personas originarias de las tierras bajas y tropicales del África.
Más aún cuando esas personas portaban una noxa que debería hacer crisis, precisamente en esas alturas. Su debilidad frente al trabajo rudo de las minas en las alturas salvó de esa carga a los negros.
Pero fueron empleados en los ingenios mineros; donde las tareas eran menos agotadoras que en los socavones, y en general a alturas menores. No hay pruebas de su presencia frente a las vetas de los minerales de la región andina.
A propósito de ésta disposición, Miguel Agía citado por Crespo Rodas, decía poco después: que la experiencia ha demostrado, que los negros no son para trabajar en la tierra fría .....! es cosa cierta que se habían de morir.
Inge Wolf menciona una cédula dictada en 1608 por la audiencia de Charcas que expone el criterio opuesto: "no solo destinar a los negros al trabajo en el interior de los socavones, sino también en las faenas menos pesadas de fundición, en vista de las experiencias negativas recogidas en el pasado".
Gallinazo no canta en Puna: Es una sentencia popular, limitante, preventiva, muy contundente y que en transmisión oral es mantenida, desde los tiempos coloniales, entre los negros habitantes de los Yungas del Departamento de La Paz en Bolivia.
Alude al peligro, que significa para los sujetos de color, el transmontar la Cordillera y arribar al Altiplano (4.000 metros sobre el nivel del mar).
Es probable que los sujetos de color que pretendían llegar a la ciudad de La Paz y de allí a los centros mineros altiplánicos en busca de trabajo, se enfermaran y hasta morían, sobre todo si tomaban el rumbo que lleva a la cumbre, por donde fue trazada la vía férrea, por Hichuloma o a la vía carretera, por Unduavi.
Recordemos que los sujetos negros que arribaron a comienzos de la Conquista acompañando a los españoles como esclavos, después de partir del África y de larga travesía marítima, llegaban a las Islas del Caribe, (Cuba, Haití, Martinica, etc.), tocaban el continente en Panamá, Venezuela, siguiendo un trayecto terrestre arribaban a Nueva Granada o Colombia, siguiendo por mar hasta el Callao (Perú), y tal vez Arica. Así llegan al Altiplano, descienden a La Paz (Bolivia) y desde aquí jalonados por los Obrajes toman el Río Abajo.
Siguiendo al río Choqueapu, luego el Río de La Paz, los conduce, por Luribay o Palca hasta la Plazuela, Irupana, Chicaloma. Vuelven a subir hacia Coroico, Chulumani (Yungas bolivianos de clima tropical o semitropical y de altitudes menores a los 1200 m snm), donde se van diseminando para trabajar siempre bajo la férula de sus amos, para luego ser empleados en cultivos de frutos tropicales, quina, coca, cítricos, etc.
Llevan en su sangre, características biológicas de la pureza de su raza, por tanto son homocigotes o heterocigotes con alta proporción patológica de Hb "S" en los glóbulos rojos. Varios de ellos enferman la anemia Falciforme, otros son portadores del rasgo en menor proporción y sobreviven, pero siempre son susceptibles de que en condiciones de hipoxia, frío, acidosis y stress puedan deformar sus glóbulos rojos y en esa condición entrabarse, aumentando la viscosidad sanguínea y la densidad de su sangre y taponando los pequeños vasos, causen las trombosis y los infartos característicos del Falciformismo.
Esos sujetos viven pocos años, hasta los 20; y si salen de Yungas hacia las alturas, corren el peligro de presentar las Crisis Falciformes", enfermarse gravemente y morir al poco tiempo de su arribo.
Sujetos que llevan la hemoglobina "S" en poca proporción, son generalmente mestizos, mulatos o zambos que llevan el rasgo y que en las condiciones señaladas, características del altiplano, pueden tener la crisis dolorosas.
La comparación con el gallinazo, es porque se trata de un ave rapaz de color negro que se alimenta de la carroña, de animales muertos, de vida estacionaria, actitud expectante, radicados en parajes de Yungas. Nunca su vuelo es alto ni prolongado, apenas remonta unos pocos metros con unos aleteos. Ni asomo de comparación al Condor de los Andes, menos de las aguilas. El gallinazo no tiene ambiciones de altitud sus proyecciones de explorar, sólo abarca su entorno rutinario, muy rara vez se ha visto algún gallinazo en el Altiplano.
No hay sentencias de éste tipo en otros grupos raciales y tan circunscritos a un ambiente geográfico como este. Es remarcable su focalización a la Puna y su alusión a una posibilidad vital, emergente de la gravedad del cuadro.
En los Yungas: Las localidades de Coroico, Mururata, Chicaloma, Chulumani, Irupana, Tocaña, etc. Son de población negra. Existen algunos resabios en Chuquisaca, Mizque, Santa Cruz, Tarija, pero ninguno firme en otros sitios del país, menos en el Altiplano, y ninguno en Potosí.
Todos los mulatos refieren antecesores en los Yungas.
Actualmente los negros salen asiduamente a La Paz. Hemos logrado calcular el porcentaje de incidencia de portadores de Hb. "S" en la población negra de los Yungas en apenas un 7.2% frente al 10% incidente en Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá y un poco mayor el 15% en Cuba y Haití.
Esas proporciones significan una prueba del mestizaje que experimentó la raza negra. Así como el hecho de que el rasgo hereditario de los recién llegados en los primeros tiempos de la colonia, directamente del Africa alcanzaban más de un 40% de incidencia, con la pureza de su raza, al ser de súbito transplantados en el Altiplano después de haber sido arrancados a la fuerza desde sus fuentes originarias africanas, tenían que sufrir las consecuencias inmediatas.
La Poca cantidad de sujetos de Yungas (unos 10.000) y la baja incidencia de positividad de Hb "S", nos está demostrando que existió un gran mestizaje entre blancos e indias que comenzó desde el primer momento del descubrimiento. Transcurrió cerca de un siglo hasta que los blancos trajeran mujeres e hijas. El mestizaje entre el blanco y su esclava negra también fue un hecho inmediato, más aún en Potosí, sitio en el cual, un mestizaje entre negros y nativas era casi imposible; por que estaban limitadas a las casas de los señores potentados, que podían haber adquirido esclavas. Por ello es que aún persisten descendientes mulatos de blancos y negros en familias burguesas.
Las migraciones de negros en las zonas tórridas y templadas como los Yungas bolivianos, ofrecían a los esclavos negros una actividad más abierta; familias o parejas de negros podían reproducirse y aún era posible el cruce entre nativas con negros, de ahí surgen mestizos, prietos, mulatos, zambos.
En estas zonas los núcleos de raza negra sobreviven en condiciones similares a las de su habitad natural, no desaparecen, por el contrario son cada vez más numerosos.
La intolerancia a la altitud, está expresada en un alegato, aunque rara vez efectivo, para tramitar el cambio de amo; cual era la intolerancia de un esclavo frente al clima de rigor extremo y muy distinto al de su medio natural africano. Aunque se ignora si se trataba de una causal atendible. En la práctica, en todo caso, el camino estaba abierto para el intento.
Por lo menos hay un caso, cuando el marido de la esclava María Antonieta Alcayde y padre de un niño llamado Jerónimo, se presentó a la Autoridad Eclesiástica de La Paz, pidiendo se obligara al Licenciado Marcos Pardo de Figueroa, (que era cura de Calamarca) a vender a su esclava, la madre y al hijo" a causa de que no podía sobrellevar el temperamento del pueblo". La Paz, 16 de Septiembre de 1797.
PRESENCIA Y AUSENCIA EN POTOSI
Es evidente que al comienzo del coloniaje llegaron muchos negros a Potosí, muchos murieron y su reproducción fue escasa. Lo contrario sucedió en otros países vecinos y del Continente, donde la población negra es importante, tanto que parece a momentos, que fueran una prolongación del África. (Por ejemplo en el Brasil el 40% de su población es de raza negra) .
Lo cierto es que a Potosí, llegaron importantes migraciones forzosas, un mercado de remate era habitual en dicha ciudad a pesar del elevado precio que tenía un esclavo. Además se conocían traficantes que recibían partidas importantes.
En ese tiempo en Cuba, un esclavo podía venderse en 30 veces de lo que había costado en África, es decir, entre 80 y 100 pesos o ducados. Era una "mercadería" que se adquiría en las costas africanas a cambio de armas, machetes, tejidos y cuentas de colores y que una vez conducidos a la América, era alto ese precio. En Potosí costaban ente 450-700 pesos. . El siglo XVII y XVIII era el mas esclavista del mundo.
De los miles de sujetos negros que arribaron, vivieron y trabajaron en Potosí no quedan sobrevivientes. Este hecho de por sí debe llamar a la reflexión en sentido de buscar un proceso patológico o epidémico importante.
Contestando esa interrogante, señalemos que Potosí tuvo las condiciones óptimas para que el transtorno de la Hb "S" o Falciformismo surtiera el efecto que estamos señalando.
En 1535, se observan los primeros sujetos de color en el Altiplano y se registran las primeras víctimas, que pasan del centenar en la expedición de Almagro.
En 1557, trece años después del descubrimiento de la plata en el afamado cerro de Potosí, después de una nevada que duró 8 días, se levantó un viento tan delgado y penetrante que por la escasa protección que ofrecían las viviendas fallecieron 18 esclavos negros.
Es bueno recordar que los esclavos adquiridos, estaban escogidos por su juventud y su estado de aparente buena salud. Algo fuera de lo común tenía que haber producido esa mortandad.
"En base a la riqueza fácil que regalaba el cerro, se levantaron las primeras iglesias, luego por necesidad, la propia Corona daría impulso a la construcción de la primera casa de amonedación que se ubicó en la plaza del Regocijo. Poco se sabe sobre la historia de la primera casa de la moneda que empezó a funcionar alrededor de 1572".
En 1573, el Virrey Toledo instituye el sistema de la Mita.
En 1611, un empadronamiento ordenado por la Audiencia de la Plata, dio cifra de 160.000 habitantes. En detalle ese censo señala:
En Potosí: 66.000 indios, 35.000 españoles, 40.000 forasteros y extranjeros y 6.000 negros, mulatos y zambos de ambos sexos (3.9%). Al parecer fue la mayor población alcanzada por la ciudad ya que la explotación del cerro estaba en su apogeo.
En 1719 la población era de 70.000 habitantes, los negros esclavos y libres, zambos y cuarterones llegaban a 3.209 o sea el 4.56% pero se habían reducido los habitantes en forma importante, a menos de la mitad.
En 1750, se inicia la obra proyectada para la actual Casa de la Moneda, el arquitecto Villa pedía al Superintendente Satelices y Venero" para que tiara los hilos y comenzar la obra de la Casa de la Moneda en la plaza del Gato, la misma que concluiría en 1773.
Para esa fecha, una calle paralela (la actual calle Junín), abierta entre la Catedral y el Colegio Pichincha, habría de tomar el nombre de "la calle de la Pulmonía". El viento del Tomavi, que se origina en Uyuni y que al llegar a Potosí en fila por un desfiladero que forma dicha calle ocasiona que en la jerga popular, haya recibido ese apelativo.
Sin embargo, tal nombre tuvo que originarse y consolidarse por los sujetos que presentando tal cuadro patológico (con la típica expectoración numular, purulenta y/o, sanguinolenta) de la pulmonía o el infarto pulmonar, frecuente en sujetos de color que merodeaban los alrededores de la Casa de la Moneda, tanto durante el tiempo de su construcción, cuanto en el que sujetos de color vivieron y trabajaron en dicha fortaleza. Cualquiera que fuese el origen de tal nombre, Potosí es la única ciudad en el mundo que tiene una calle con tan insólita denominación y de sugerente contenido patológico.
En 1793 en Cochabamba el gobernador intendente Francisco de Viedma hizo un censo en dicha ciudad, que tuvo las siguientes características: 23.305 habitantes, 6.238 españoles, 12.980 mestizos, 1.182 indígenas, 600 mulatos, 175 negros.
En 1807, en el curato de Potosí sobre un total de 13.700 personas estaban registrados 459 negros y 502 pardos, que representaban el 7% .
A fines del siglo XVIII aproximadamente 13.000 habitantes vivían en Chuquisaca, de éstos 4.000 eran españoles, 3.000 mestizos, 4.500 indios y 1.500 negros y mulatos (31) dicha ciudad había sido fundada en 1539 por Pedro Anzures de Campo Redondo.
También en La Paz en los siglos XVII y XVIII la población de esclavos negros tenía en su mayoría una edad media de 10 y 20 años de edad.
Los que tenían 20-30 años, llegaban al 32,3% y de los de mas de 30 años apenas llegaban al 17.1%. Se concluye que sólo el 17.1% de toda la población a 3.600 metros sobre el nivel del mar, tenía una aspiración de vida mayor de los 30 años. La mayoría había muerto a una edad menor, que es coincidente con la sobrevida general de los sujetos con anemia falciforme, que apenas logra sobrevivir hasta los 20 años, según escrituras de venta de los escribanos de La Paz.
Según cómputos de fines del siglo XVIII América tenía:
- 16:902.000 habitantes
- 3:726.000 blancos
- 7:530.000 indios
- 5:310.000 mestizos
- 780.000 negros
Joseph B Pentland, un agente consular Británico en 1826 había recogido información sobre el país. Así un cálculo demográfico llevado a cabo por el gobierno estimaba la población total de Bolivia entre 1.100.000 y 1.200.000 habitantes. De ése número unas 200.000 personas eran de ascendencia española, las tres cuartas partes de la población, (es decir unos 800.000) eran indios, los cholos o mestizos llegaban a 100.000 individuos, los de raza negra llegaban a 7.000 de los que 7.000 seguían como esclavos .
Analizando éstos datos es patética la disminución de negros en Potosí, hasta su actual total desaparición.
Por el contrario, es notable el incremento de sujetos negros que en algunos sitios sustituyeron a los nativos hasta lograr su total erradicación, como sucedió en Haití y Cuba, la Martinica, Jamaica, Bahamas y sobre todo en lo que primero fue la Española o Haití donde existiendo numerosa población de nativos, por efecto de enfermedades portadas por españoles y negros, tales como la viruela y el sarampión, produjeron mortandad, semejante a una masacre .
Pobladores de esas islas desaparecen y son suplantados por negros en su totalidad. La viruela tal y como lo señalamos anteriormente, tiene un papel estelar en ese cambio demográfico. Los esclavos negros que llegaron con los conquistadores estuvieron vinculados a las actividades mineras, agrícolas y ganaderas. Vivieron con sus señores, junto a sus habitaciones, haciendo de fieles agentes del servicio. Deambularon con sus camas por calles y caminos, no solo como simples acompañantes, sino como factores de prestigio y status social de quienes iban sobre sus espaldas, bajo su paraguas o bajo su vigilancia. Estuvieron presentes en levantamientos y conflictos, ellos fueron el eje de una ideología, la de la esclavitud y su consecuencia, la imperiosa ansia de libertad.
Es sugerente lo que escribió un esclavo llamado George King, liberado en Carolina del Sur (EE.UU.) "El amo nos dijo que éramos libres, pero eso no significa que seamos blancos y no supone que seamos iguales".
O este cantar que resume esa inquietud: "Mi abuela vino del África a criar al Libertador", "Bolívar agradecido, libertó a mi nación".
En Potosí acompañaron a los Vascongados, que eran comerciantes, perseverantes y trabajadores. Por lo mismo los españoles tenían en sus manos, las estructuras socio - económicas, por lo tanto tenían esclavos como prueba de su status. Eran guardaespaldas, capataces y agentes custodios de los bienes de es núcleo racial y regionalista de España.
Frente a ellos agrupando a castellanos, extremeños y andaluces estaban los vicuñas, además de los criollos, más dedicados a la aventura, al ejercicio de las armas y de menguados recursos económicos.
Por todo ello en la guerra civil de influencias, poderes y prerrogativas que se desató en Potosí, los esclavos llevaron la peor parte, pues ellos eran víctimas indirectas de esa guerra. Murieron por centenares, según ocho citas expresas de Bartolomé Arzans y Vela, que demuestra, al parecer, otra importante causa de mortalidad, además de la señalada en el plano de la salu.
Potosí fue el botín de la Conquista, alrededor del Cerro Rico existe un filón histórico que aún no ha sido completamente recogido ni explorado.
De comienzo a fin los españoles que explotaron los yacimientos de plata estuvieron acompañados de sus esclavos negros adquiridos a precios altos gracias a las riquezas que les brindó sin retaceos el fabuloso cerro, que bien podía ser, como lo sugirió Arzans y Vela la octava maravilla del mundo.
Por esa condición los sujetos negros corrieron la misma suerte que sus amos en la hora de las querellas ambiciosas que buscaban hegemonía para explotar el cerro. A la hora de la Guerra de la Independencia (de los 15 años) y aún en los primeros años de la República, Potosí fue cercada, asaltada y saqueada a expensas de sus habitantes mineros y de la Casa de la Moneda donde se fundía y traducía en dinero el argéntico producto que inundaba el mundo: la Plata. La Guerra civil de Vicuñas y Vascongados (1622-1625), las guerrillas, los ejércitos auxiliares y los caudillos de la República, alejaron de su seno a los mineros españoles y por tanto a los esclavos negros .
La contribución de la raza negra debe ser valorada en cada momento de la historia. El aporte a la ganadería continental, en los primeros tiempos de la colonia, tiene un valor incalculable. En ese momento eran depositarios de una tradición pastoril, extraña al indígena. Sin embargo, definitivamente, no tenían una tradición minera adaptable a Potosí.
Existe una autojustificación moral, religiosa y jurídica elaborada por el estado y la sociedad que se beneficiaba con la esclavitud, pero ni por asomo con la "Visión de los vencidos".
Desvanecida su figura por un largo cruce con otras razas fundamentales de América: la española y la indígena, interrumpida la llegada de nuevos aportes africanos desde comienzos del siglo XIX, víctimas de la hostilidad del clima de las regiones altas a donde se lo trajo a trabajar, el negro queda ahora en Bolivia, apenas como la imagen intemporal de un pasado perdido.
Sin embargo fue durante más de 2 siglos y medio, un elemento esencial de la colectividad llamada hoy boliviana, con el grillo al pie, el azote en las espaldas. "Fue el gran colonizador del Nuevo Mundo, cultivador de coca en las laderas húmedas de los trópicos, peón en las haciendas de los valles de Tarija y Chuquisaca, sirviente doméstico en las ciudades, trabajador en los ingenios mineros, acuñador en la Casa de la Moneda de Potosí".
Ningún negro fue dueño de las centenares de minas o socavones de explotación. Pese al costo pagado en vidas, lágrimas y sufrimientos, ninguno enriqueció con la plata del Cerro Rico de Potosí.
Assinar:
Postagens (Atom)